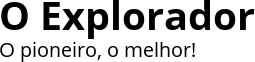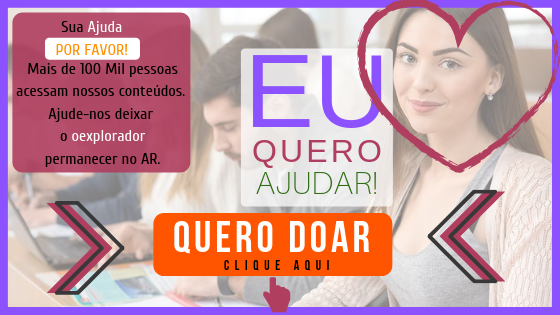Um colunista brilhante: um jornalista culto, ácido ao comentar, debochado e que não perdoava ninguém

O jornalista Paulo Francis (Foto: Marcos Penteado – 28.mar.95/Divulgação)
Paulo Francis (Rio de Janeiro, 2 de setembro de 1930 – Nova York, 4 de fevereiro de 1997), ator, diretor, crítico, teatrólogo, jornalista e polemista brasileiro. Nascido numa família de classe média carioca, no dia 2 de setembro de 1930, seu nome verdadeiro era Franz Paulo Trannin Heilborn. Foi um menino cabeçudo e vesgo que estudou com padres jesuítas e não fez curso superior. Em O Afeto que se Encerra, seu livro de memórias, ele conta que, dos 14 aos 27 anos, lia em média seis horas por dia, de tudo. Essa formação autodidata, além do ecletismo, deu-lhe algo mais decisivo na sua formação: a capacidade de pensar por conta própria, de não se preocupar com método ou coerência. Sem saber muito bem para qual profissão se encaminhar, o jovem Franz apresentou-se na companhia de Paschoal Carlos Magno e ofereceu-se para ser ator. Foi aceito na hora, sem teste. Como seu nome era impronunciável, o diretor inventou-lhe um nome artístico, o de Paulo Francis. De ator passou a diretor e logo em seguida a crítico de teatro, com coluna fixa na imprensa. Como crítico, advogava o fim do academicismo e das comédias de costume importadas. Queria realismo, política, discussão séria nos palcos.
Era um crítico respeitado e polêmico, que escrevia claro, citava autores que ninguém conhecia, entendia a fundo o teatro grego e Shakespeare. Mas, apesar de toda a sua erudição e racionalismo, protagonizou uma baixaria que marcou época. Sem nenhum motivo inteligível, escreveu um artigo infamante contra Tônia Carrero. O marido da atriz, o italiano Adolfo Celi, procurou-o e se engalfinharam. Paulo Autran também tomou as dores da amiga e partiu para a briga com Francis. Anos depois, o jornalista reconheceu que o artigo era uma infâmia.
Com coluna na imprensa, a passos largos Francis foi ampliando seus horizontes. Abandonou a crítica teatral, passou a fazer artigos sobre cultura e política, tornou-se editor. Ou seja, virou jornalista. E jornalista de esquerda. Estava na contracorrente, na medida em que era admirador de Leon Trotsky e a esquerda brasileira, na década de 60, era majoritariamente stalinista. A oposição entre Francis e os stalinistas estava longe de ser absoluta. Um de seus melhores amigos, naquele período e depois, era o falecido editor Ênio Silveira, intelectual do PCB. O regime militar atingiu-o em cheio, principalmente depois do Ato Institucional n.° 5, de dezembro de 1968. No ano seguinte, estava em O Pasquim, jornal ipanemense que, por força das circunstâncias, simbolizou a resistência ao regime militar e teve o condão de renovar a imprensa brasileira. Ali, Francis escreveu artigos virulentos denunciando a agressão militar do imperialismo americano ao Vietnã. O que não impediu a Fundação Ford de lhe conceder uma bolsa que permitiu a sua mudança para Nova York, em 1971. Nos Estados Unidos, Francis continuou esquerdista e colaborador de O Pasquim. Só em 1977, convidado por Claudio Abramo, transferiu-se para a grande imprensa, virando correspondente da Folha de S. Paulo.
Começava a nascer, então, o Francis: página inteira de comentários sobre os mais variados assuntos, notas curtas, pedradas – em José Guilherme Merquior, Ruth Escobar, José Sarney etc. etc. Também começava a curva caprichosa que o levaria da esquerda à direita, da simpatia a Trotsky ao apoio a Fernando Collor de Mello, da rebeldia ao conservadorismo, da solidariedade com os pobres aos vitupérios contra nordestinos e negros. Essa curva, feita sob o signo da independência intelectual, também refletia a mudança dos tempos: a crise do modelo soviético, os Estados Unidos vencendo a Guerra Fria, o capitalismo se expandindo. Mas, como nada é simples, mesmo enriquecendo e se elitizando, Francis continuou a incomodar os bem pensantes, a prestigiar artistas inovadores e marginais, a se arriscar. Queria voltar a fazer ficção, mesmo sabendo que seus romances dos anos 60 haviam sido fracassos retumbantes de crítica e público. No auge da sua glória, queria mais. Descansando em Paris, não via a hora de voltar ao batente da escrita, para se expor, criar e cobrar. Era um poço de contradições, de fúrias invisíveis. Como no poema de Mario Faustino, que ele tanto admirava, Francis não soube firmar o nobre pacto entre o cosmo sangrento e a alma pura. Tanta violência, mas tanta ternura. Fará uma falta incrível.
Dizia verdades definitivas sobre física quântica, mas não sabia arrumar a própria mala. Cometia erros incríveis em artigos em que xingava os outros de burro. Exibia-se como um pavão para as câmaras de TV, mas era de uma timidez atroz. Grosso, agressivo e destemperado por escrito, era uma flor no contato pessoal. Em quase quarenta anos de presença constante na imprensa, milhões de leitores não conseguiam escapar da sua argúcia, da sua cultura, de seus juízos peremptórios e surpreendentes. Era admirado, odiado, imitado.
O Brasil fica mais chato sem Paulo Francis. Não haverá mais no Estado de S. Paulo, em O Globo e outros jornais pelo Brasil afora aquelas páginas de estilo inconfundível. A primeira nota, sempre política, descascava o governo, ou a Petrobrás, ou a telefonia nacional, ou os políticos, ou o Brasil. Depois vinham comentários sobre literatura, História, ópera, balé. De passagem, um pontapé em alguém famoso. Tudo muito pessoal: todas as frases poderiam começar com “eu acho que”. Era o jornalista mais conhecido do Brasil, um dos mais respeitados, seus livros sempre entravam na lista dos mais vendidos, gostava imensamente do que fazia.
Nem tudo, no entanto, estava bem nas semanas que precederam a morte. Ele tinha padecimentos físicos que se confundiam com a angústia provocada pelo processo dos diretores da Petrobrás. Em outubro de 1996, no Manhattan Connection, no entusiasmo e na descontração do programa, Francis cometeu a leviandade de afirmar que “os diretores da Petrobrás põem dinheiro na Suíça”, “roubam em subfaturamento e superfaturamento”, “é a maior quadrilha que já existiu no Brasil”. Rennó e sua turma lhe abriram um processo em Nova York, pedindo uma indenização por danos morais inconcebível: 100 milhões de dólares. Sem provas para sustentar sua afirmação, ciente de que a pendenga se arrastaria por no mínimo uns cinco anos, com seus advogados calculando os próprios honorários em cerca de 200 000 dólares, o jornalista se desesperou.
Nenhum outro jornalista brasileiro no século XX teve tanto público e influência quanto Paulo Francis. Uma trajetória extraordinária, que começou nos palcos de teatro do Nordeste, onde fez uma turnê como ator no início dos anos 50, passou pela defesa de posições esquerdistas nos anos 60, o que lhe valeu várias prisões pelo governo militar, e depois pelo estabelecimento em Nova York em 1971, pela ida para a televisão nos 80 e pela defesa cada vez mais entusiasmada do capitalismo nos 90. A cada virada, Francis surpreendia. E se tornava mais popular. Em Nova York, com frequência brasileiros lhe pediam autógrafos. Era festejado, adulado e temido pelos poderosos. Era de uma arrogância ímpar. “Vale lembrar aqui que o professor sou eu”, disse-lhe o economista americano John Kenneth Galbraith, que Francis entrevistou para a televisão.
Professor emérito de Harvard, Galbraith se abespinhou porque o jornalista estava lhe dando lições de economia. Com a sua morte, foi escrita, virada e, literalmente, fechada a página da mais brilhante contundência da imprensa brasileira. Era curiosa a religiosidade de Francis. Em 1995, em Veneza, assistiu à missa do galo na Catedral de São Marcos. Comoveu-se com os mosaicos iluminados, com os ornamentos sagrados. Assim que o bispo começou sua ladainha, Francis fechou os olhos e tirou uma soneca. Difícil encontrar gente mais bajuladora e subserviente do que nós brasileiros. Francis era o contrário. E sempre escolhia o lado errado. Esquerdista durante a ditadura militar. Direitista quando a esquerda conquistou a hegemonia cultural. Esperneou contra o confisco do Collor. Atacou solitário Fernando Henrique Cardoso. Agora, acabou o antídoto contra o nosso caráter abjeto.
O jornalista Paulo Francis preparava um romance histórico sobre o período de Getúlio Vargas na história política do país. Segundo o editor Luiz Schwarcz, da Companhia das Letras, o livro receberia o nome de “O Homem que Inventou o Brasil”.
Além desse trabalho, Francis preparava “Cabeça”, a terceira parte da trilogia “Cabeça de Papel” e “Cabeça de Negro”. Schwarcz disse ainda que, em janeiro, o jornalista lhe disse que tinha a intenção de escrever um livro de contos, com narrativas bem curtas.
Paulo Francis publicou dois livros pela Companhia: “Trinta Anos Esta Noite – 1964: O Que Vi e Vivi” (1994) e “Waal – Dicionário da Corte de Paulo Francis” (1996).
Francis morreu no dia 4 de fevereiro de 1997, aos 66 anos, por um ataque cardíaco, em Nova York, Estados Unidos.
Para o jornalista Nelson Motta, amigo de Paulo Francis há 20 anos e seu colega no “Manhattan Connection”, do GNT, a última edição do programa, gravada na sexta-feira passada, foi “a mais engraçada” desde a sua criação -deixando à mostra um Francis ainda mais jocoso que o normal.
“Não sei se era por que o Hélio de La Peña, da turma do “Casseta & Planeta”, estava assistindo à gravação, e o Francis adorava as imitações que eles faziam dele, o fato é que foi uma palhaçada geral, todo mundo brincou”, afirmou Motta.
(Fonte: Veja, 12 de fevereiro, 1997 Ano 30 N.° 6 – Edição 1482 Jornalismo/Por Eurípides Alcântara – Pág; 74 a 80)
(Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/fol/cult – Agência Folha – CULT / Por (Cláudia Trevisan) – De Nova York – 04/02/97)
Ácido e carinhoso
Paulo Francis – o jornalista que desencava o senso comum esquerdista e nacionalista – fez do personagem o jornalista mais brilhante de sua geração.
Em suas colunas nos jornais e comentários na Rede Globo, Francis desencava as falácias do senso comum esquerdista e nacionalista – incluindo aí o culto ao cinema.
Francis começou sua carreira no teatro, nos anos 50. Ator, diretor e, finalmente, crítico, rompeu com a amenidade então vigente no meio teatral. “Toda cultura tem de ter conflito. É preciso haver gente que ataque autores e atores”, dizia. Francis era, àquela altura, um trotskista. No fim dos anos 60, foi preso pela ditadura militar. Mas o fato fundamental de sua trajetória foi a mudança para os Estados Unidos, em 1971.
A partir daí, passaria por uma conversão à racionalidade, processo para o qual contribuiu também uma viagem à União Soviética. “Em um dia, você compreendia que aquilo só funcionava na base da polícia”, concluiu. Exasperava-se com a miopia da esquerda nacional: “O Brasil é o único país do mundo em que se leva o comunismo a sério.”
Em 1996, quando suas intervenções intempestivas movimentavam o programa Manhattan Connection (GNT), ele declarou que a diretoria da Petrobras formava “uma quadrilha” e tinha “contas na Suíça”. A leviandade motivou uma ação juducial do então presidente da estatal, Joel Rennó, e outros seis diretores. O estresse desencadeado pelo processo contribuiu para o ataque cardíaco que o levaria à morte, aos 66 anos. Ele estava no auge da carreira. E, havia um bom tempo, já tinha extrapolado a condição de jornalista.
Paulo Francis converteu-se em um personagem da cultura brasileira, tão fundamental quanto decisivo: ou se era contra ou a favor de suas posições.
(Fonte: Veja, 13 de janeiro de 2010 – ANO 43 – N° 2 – Edição 2147 – Cinema / Por Marcelo Marthe – Pág: 120)
- Paulo Francis (1930-1997), autodidata, além do ecletismo, não se preocupava com método ou coerência.
- Paulo Francis (1930-1997), autodidata, além do ecletismo, não se preocupava com método ou coerência.
- Paulo Francis (1930-1997), ator, diretor, crítico, teatrólogo, jornalista e polemista brasileiro
- Paulo Francis, jornalista e polemista brasileiro