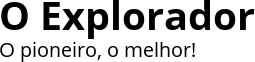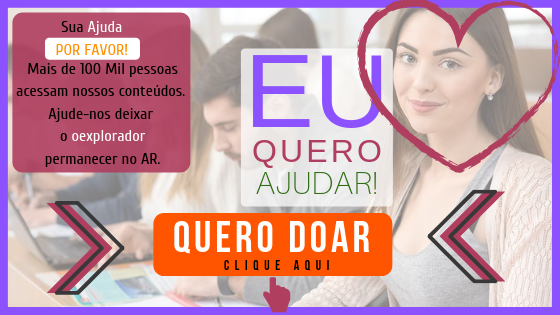Regiani Ritter, 1ª mulher a cobrir futebol: jogadores pelados e preconceito
Ela cresceu em Ibitinga, no interior de São Paulo, odiando futebol. Todo fim de semana, quando tinha jogo do Corinthians na região, os pais pegavam um ônibus para ir ver o time do coração. A ausência deixava a pequena Níobe chateada.
O nome, de ascendência grega e que causava muita confusão, ela acabou abandonando. Adotou Regiani Ritter, em homenagem a familiares italianos e austríacos. E, na sequência, deixou para trás também o rancor pelo esporte, o que a transformou em uma das primeiras mulheres a trabalhar com futebol do Brasil.
Regiani iniciou sua carreira como atriz, mas conta que ficar em cartaz por longos meses com uma mesma peça a deixava entediada. Apaixonou-se pela rotina do esporte, por estar cada vez em um canto diferente. Trabalhou com profissionalismo dentro de um universo que pouco reconhecia o talento feminino e conquistou o rádio, a TV e o jornal impresso. Quem acompanhou seu tempo de repórter de campo se lembra: “Ela entrava nos vestiários e entrevistava os jogadores pelados”. Sim, Regiani fez isso, mas fez muito mais.
Em entrevista ao Extraordinárias, ela, hoje com 72 anos, conta sua jornada no esporte, lembra que nunca foi maltratada por dirigente nem por atletas, mas revela que sofreu preconceito dos próprios colegas de profissão. E se emociona ao falar da herança que está deixando ao trabalhar com estudantes de jornalismo hoje, na rádio Gazeta AM, onde apresenta “Disparada no Esporte” e “Programa Regiani Ritter”.
Paixão e ódio pelo futebol
Quando criança, eu meio que detestava futebol. Todo final de semana que tinha jogo do Corinthians nas cidades próximas à nossa, que era Ibitinga, os meus pais sumiam. Iam para Bauru, Ribeirão Preto, Araraquara, assistir às partidas. E eles não levavam as crianças, nos deixavam com a minha avó. Mas logo depois eu comecei a jogar bola e adorava. Só o futebol mexe tanto com emoções. Olhando bem, não tem graça nenhuma. São 20 homens brigando por uma bola, fazendo as mesmas jogadas, repetindo a mesma marcação. Antigamente ainda tinha gol de letra e jogadas fantásticas, antológicas. Hoje não tem mais. Nosso futebol está retrógrado, atrasado, parou no tempo. Eu gosto do futebol arte.
Palmeirese (hoje) assumida
Hoje eu falo para que time torço, mas, nos 20 anos em que atuei na beira do gramado, como repórter e como comentarista no “Mesa Redonda”(Gazeta), eu não falava, porque eu já tinha o peso de ser mulher. E achava que poderia cair no descrédito. Eu sou palmeirense. A primeira vez que meu pai me levou ao Pacaembu –obrigado, porque ele não tinha com quem me deixar–, era um jogo entre Corinthians e Palmeiras, eu tinha uns 8 ou 9 anos. Ficamos no meio da torcida do Corinthians, claro, só que eu tinha uma visão fantástica da torcida adversária, verde e branca, belíssima. Aquele estádio lotado, com aquelas bandeiras maravilhosas. O Corinthians perdeu, e meu pai ficou dizendo que eu era pé-frio. Eu não sabia de nada na época. Perguntei: “Que time é esse?”. E ele falou: “Essa porcaria do Palmeiras!”. E eu imediatamente pensei: “Esse lindo do Palmeiras!”. Naquele dia, nasceu uma palmeirense.
Transição de carreira
Trabalhei como atriz por muitos e muitos anos, depois parei. Quando atriz, eu tinha uma felicidade muito grande a cada trabalho, mas faltava alguma coisa. Eu me sentia muito na rotina. Você fica com uma peça de teatro oito meses em cartaz, dá vontade de chorar, dá vontade de morrer. Por isso eu me casei três vezes, a rotina me cansa. E, quando eu fui para o jornalismo esportivo, isso mudou. Hoje estou aqui, amanhã vou para Belo Horizonte, na semana que vem para Belém. É cada dia um lugar diferente. É muito prazeroso. É um jogo de emoções muito grande.
Cobertura de férias
A rádio Gazeta, em 1980, me convidou para apresentar um programa musical de variedades, que abordava todos os assuntos: economia, política, saúde, literatura, artes, cinema. E eu criei um quadrinho de esporte dentro desse programa. Um dia, o diretor da rádio, o Pedro Luiz Paoliello, que foi um dos grandes narradores do Brasil e um grande jornalistas esportivos, me convidou para cobrir a ausência de um repórter que ia viajar acompanhando a seleção brasileira. Eu ia cada dia para um clube e, no fim de semana [quando acontecem os jogos], eu folgava. Sempre olhava a escala com a esperança de que um dia ele poria meu nome lá, mas ele não me escalava para jogos, só para treinos. Após um mês trabalhando, me sentei com ele e falei: “Pedro, eu quero fazer um jogo. Senão, nunca vou me sentir realizada”. Ele ficava me pedindo calma. Disse que o superintendente da rádio tinha medo de que a voz feminina tirasse a credibilidade da informação esportiva.
Em todos os meios de comunicação
Conheci o Roberto Avallone [jornalista esportivo que foi diretor da Gazeta]em um jantar de confraternização aqui. Ele disse que me ouvia na rádio e me chamou para cobrir férias do Cléber Machado na TV. No fim, eles abriram uma vaga para eu ficar. Eu tinha um sonho que era atuar nos três meios de comunicação –TV, rádio e impresso– como jornalista esportiva especializada em futebol, mas ainda faltava o jornal, ninguém me chamava. Comentei com a minha irmã, e ela me disse que eu estava mentalizando errado, pensando negativo. Aí comecei a me imaginar, eu me via nas chamadas de capa do Diário Popular, que na época tinha sido eleito o melhor caderno de esportes de São Paulo. E 28 dias depois, fui chamada para trabalhar lá.
Toque feminino
Eu não via as minhas matérias com grande diferença em relação às matérias dos outros, mas elas tinham um toque diferente, e eu acho que era o toque feminino. Só pode ser isso. Eu levava tudo muito a sério. A primeira pauta que me deram no Diário era entrevistar o Mustafá Contursi [dirigente do Palmeiras]. Diziam que ele não falava com a imprensa e não se deixava fotografar, tanto que ele só trabalhava à noite no clube para não ser incomodado. Eu liguei, falei com ele diretamente, e ele marcou, com fotógrafo e tudo. Quando terminamos a entrevista, lá no Parque Antártica, eu perguntei por que ele tinha me recebido. Ele falou: “Porque você tem uma personalidade diferente dentro da imprensa esportiva. Te acompanho, você não se aproveita das desgraças das pessoas, dos clubes nem dos jogadores. Sou seu fã, assisto ao ‘Mesa Redonda’ para te ouvir, acho você muito coerente e alguém que não se deixa levar pela opinião da maioria”.
Doença misteriosa
Quando eu estava no auge da minha carreira, contraí uma enfermidade que ninguém descobria o que era. Eu perdi 10 kg, fiquei pálida, estranha, eu tinha um cansaço muito grande. Passei por 12 médicos diferentes ao longo de um ano e dez meses. Quando não deu mais, eu fui para uma clínica, fiquei 32 dias e não descobriram o que eu tinha. Eu voltei, fui trabalhar e, um dia, um repórter da Rádio Globo me disse que achava que sabia o que eu tinha, pois a mulher tinha algo semelhante. “É qualquer coisa tiroidismo”, ele falou. Oito horas da manhã do dia seguinte eu estava numa endocrinologista, que confirmou o diagnóstico de hipertiroidismo. Com três meses que eu contraí essa enfermidade, começou a se espalhar no meio jornalístico que eu tinha o vírus da Aids e que estava morrendo. Quando finalmente voltei a trabalhar, encontrei o Emerson Leão na Portuguesa, ele era o técnico, e me falou: “Regiani, você sabe o que estão falando de você por aí?”. Eu falei que sabia mais ou menos. “Que você está com Aids e que tem pouco tempo de vida”. Perguntei quem estava espalhando isso, e ele me disse: “Os seus colegas, os jornalistas”.
Preconceito que vem de dentro
Do público, eu não sofria rejeição nem recebia ofensas. Mas uma vez o Milton Neves falou: “Regiani Ritter, você me irrita, você não entende nada de futebol”. Nove anos depois, eu perguntei se ele ainda pensava assim. E ele me disse: “Tive nove longos anos para me arrepender”. Mas senti isso de alguns colegas. Havia três tipos de profissionais. A primeira categoria –e era a minoria– me tratava superbem, sem festa, sem rejeição, sem desconfiança, sem antipatia. Com o tempo, descobri que eram os bons, a elite do jornalismo. Teve uma outra categoria que me recebeu mais ou menos. Eram os jornalistas porte médio. E a terceira categoria, que me recebeu com grunhido, eram os ruins. Esses sabiam que iam ser superados, pois não confiavam no próprio trabalho. Eram fraquíssimos.
Não sou mulher, sou jornalista!
No meu trabalho, sempre fui um reflexo do que as pessoas eram comigo. Foi grosseiro? Eu sou igual. Isso para aprender que eu não estou brincando. Aqui eu não sou mulher, aqui eu sou jornalista! Eu fiquei 84 dias com a seleção brasileira em 1993, nas eliminatórias da Copa de 1994. Depois, passei 55 dias na Copa. Sabe com quantos jogadores eu briguei? Nenhum. Com quantos elementos da comissão técnica eu me indispus? Nenhum. Com quantos dirigentes me desentendi? Houve um deles que me convidou para jogar truco. Eu falei: “Não, obrigada, estou trabalhando 18 horas por dia e não misturo estação”. Quando eu falo de amizade profissional é: somos amicíssimos, se você precisar de mim vou tentar ajudar. Mas não me convida para jantar que eu não vou. Essa era uma relação profissional que eu precisava manter.
Profissão como prioridade
Naquele momento, o trabalho era a minha prioridade absoluta. Não tem como você se aventurar por um mundo que não é o seu, por uma profissão que não é a sua, e fazer mais ou menos. Muitas vezes fiquei meses sem folgar, mas foi uma escolha minha. Nunca cobrei, nunca briguei. Claro que às vezes dava vontade de ir para a praia, deitar lá e ficar com a cara no sol, tomando uma cerveja gelada. Mas não dava tempo. Haveria tempo para essas coisas no futuro. Depois sobrou tempo, quando eu me aposentei, e eu voltei correndo.
Cara de paisagem no vestiário
No primeiro ano, eu não fiz vestiário. Eu cobria o São Paulo e tenho um carinho muito grande pelo clube, que me abriu as portas, os braços e foi uma casa para mim. Aí, um dia –isso foi em 1985–, eu estava no campo e, quando o jogo acabou, fui falar com o Cilinho [técnico]. Jogaram alguma coisa nele, que me puxou pelo braço túnel adentro e falou: “Vamos para o vestiário, lá a gente conversa”. Eu disse a ele que não entrava no vestiário enquanto os jogadores não estivessem parcialmente vestidos. E ele me respondeu: “Que isso! Você é profissionalíssima, respeitadíssima e muito querida por todos. Você vai para o vestiário agora”. E aí, quando eu entrei, eles estavam todos pelados. Começaram a correr, viravam de costas e esqueciam o bumbum, punham a mão para trás. E eu com cara de paisagem. O Casagrande foi um dos grandes responsáveis por eu ter vencido as barreiras do vestiário. Porque pelado ele estava, pelado ele continuou, pelado ele me deu entrevista. Ele foi a minha salvação.
Nova geração
A coisa mais difícil do mundo é eu me enganar com os alunos. Percebo de cara o potencial gigantesco aqui, médio aqui, nenhum aqui. É fascinante. Quando eu fui questionada se eu aceitaria fazer esse trabalho, eu falei: “Gente, vocês me conhecem. Eu tenho pavio curto, eu sou grossa, sou impaciente! Não vai dar certo”. Porque trabalhar com parceiros da mesma categoria é diferente. Se precisar você taca o microfone na cabeça, mas com alunos não se pode fazer isso. Decidi tentar por 90 dias e, que inferno!, eu me apaixonei. Eu me apaixonei pelo trabalho, eu me apaixonei pelos alunos, eu não saberia explicar o que eu sinto quando eles chegam, titubeantes, gaguejando às vezes, nervosos. E como eles saem daqui, voando, nadando de braçada. Você sabe que com eles vai um pouco de você [se emociona]. E deles fica muito comigo. Sinto um puta de um orgulho.
Espaço conquistado é irreversível
As mulheres de hoje estão mais ágeis, mais dinâmicas. Só talvez em uma ou outra esteja faltando uma pitadinha de paixão. Acho que o espaço conquistado é irreversível. Esse não fecha mais. Por mais que os homens queiram, batalhem, lutem, o espaço é nosso, é das mulheres. A manutenção e a ampliação do espaço só dependem delas.
Quando eu podia imaginar, há 20 ou 30 anos, que eu ia ligar na Globo e o narrador ia estar chamando uma mulher no gramado? Eu me lembro da primeira vez que teve uma repórter fazendo um jogo na Globo e era com o Galvão Bueno. Ele não a chamou o jogo inteirinho. Quando tinha algum lance que ela tinha necessidade de falar, ela chamava por ele. Ele não falou o nome dela uma vez.
Hoje eu não sei como ele está agindo, pois não tenho visto. Mas assisti ao jogo domingo, com o Cléber Machado, ele dando à repórter o mesmo trato que dava ao repórter do outro lado, que era homem. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer e aconteceu. Algumas jornalistas me acham responsável pela abertura do espaço. Eu comecei, mas quem está terminando o trabalho são elas. A melhor resposta que temos que dar é um puta de um trabalho.
(Fonte: https://extraordinarias.blogosfera.uol.com.br/2019/04/25 – EXTRAORDINÁRIAS / HISTÓRICO / Por Débora Miranda – 25/04/2019)