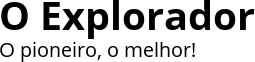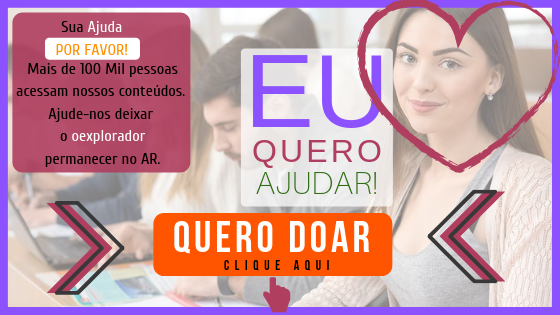A missão do século 19 que deu início à oceanografia
A primeira investigação organizada dos oceanos só aconteceu em 1872, quando a Royal Society, o Museu Britânico, e o governo britânico, organizaram a expedição do HMS Challenger. Nascia a oceanografia.
Ela durou três anos e meio, percorrendo todos os oceanos. Na volta trouxe mais de 4.700 novas espécies de organismos marinhos, e reuniu informações ‘suficientes para criar um relatório de 50 volumes, que levou dezenove anos para ser completado. A expedição legou ao mundo uma nova disciplina científica: a oceanografia’ (Fonte: Breve História de Quase Tudo, de Bill Bryson, ed. Cia das Letras).
Ela já foi uma casa residencial, mas atualmente a imponente estrutura de pedra na Boswall Road, na costa sul de Edimburgo, na Escócia, faz parte de uma clínica de cuidados paliativos.
A construção tem o mesmo nome da parte mais profunda do oceano e de duas espaçonaves da Nasa, agência espacial americana. Uma era o módulo de comando da missão Apollo 17, enquanto a outra era um ônibus espacial, que explodiu em pleno ar após o lançamento — Challenger.
Challenger Lodge já foi propriedade de John Murray (1841–1914), célebre precursor da oceanografia, cujas expedições o levaram aos lugares mais longínquos de Edimburgo, mas ainda no planeta Terra.
A embarcação em que viveu por três anos na década de 1870 é o que une a casa na costa escocesa, a parte mais profunda do oceano e as espaçonaves da Nasa.
O HMS Challenger era um navio da Marinha Real Britânica construído na década de 1850. Ele entrou para a história não pelo histórico de combates, mas graças a uma reputação conquistada por algo muito mais minucioso.
Uma viagem de três anos — de observação científica, e não de demonstração do poderio naval — que cruzou o globo em uma jornada de 68.000 milhas náuticas (125.900 km).
Esta viagem, da qual Murray fez parte, mudou a forma como vemos os oceanos. E, ao longo do caminho, descobriu espécies que vivem nas profundezas do fundo do mar. Não centenas, mas milhares.
Os oceanos eram as estradas do fim do século 19. Com os aviões a jato para transporte de carga a um século de distância e ferrovias ainda por percorrer grandes áreas do mundo, grande parte do comércio mundial dependia de navios.
Mas, apesar de sua importância vital para o comércio e o poder colonial, as profundezas do oceano poderiam muito bem estar em outro planeta.
Os antigos gregos e romanos haviam mapeado meticulosamente — e com bastante precisão — o litoral do mar Mediterrâneo. Mas embora sua cartografia tenha mapeado a costa, o mar ao redor dela era considerado um reino de monstros e serpentes gigantescas que devoravam embarcações.
Quando os antigos gregos começaram a explorar além do Mediterrâneo, há cerca de 2,9 mil anos, a descoberta de uma forte corrente de norte a sul os fez acreditar que haviam encontrado um enorme rio. Da palavra grega para rio “okeanos”, surgiu o nome oceano.
Durante séculos, a oceanografia ficou apenas engatinhando. Os litorais foram mapeados, as espécies capturadas pelas redes foram desenhadas e analisadas, e as profundidades registradas com linhas de prumo. Mas grande parte do oceano — especialmente sua profundeza fria e invisível — continuou sendo um mistério.
Depois da Era dos Descobrimentos e da violenta colonização de grande parte do globo pela Europa, a atenção começou a se voltar para o que havia embaixo da superfície do mar. As primeiras tentativas foram esporádicas, no entanto, e exploraram apenas uma pequena fração dos oceanos na época.
Apenas na década de 1760, foi realizada a primeira missão oceanográfica exclusiva — uma expedição dinamarquesa aos mares ao redor do Egito na Península Arábica —, coletando espécimes por meio de redes e equipamentos simples de dragagem.
No século 19, foi quando o que hoje chamamos de oceanografia atingiu a maioridade.
Expedições menores e menos ambiciosas nas décadas anteriores aos anos 1870 foram fundamentais para que o Challenger zarpasse, explica Helen Rozwadowski, fundadora do programa de estudos marítimos da Universidade de Connecticut, nos EUA.
De forma lenta e segura, eles forneceriam os pilares para uma missão tão ambiciosa quanto a do Challenger.
“Você não consegue fazer uma viagem de circunavegação de três anos e meio do nada”, afirma.
“Os antecedentes se apresentam em duas direções básicas — um deles se refere aos trabalhos hidrográficos feitos especialmente por hidrógrafos britânicos e americanos.”
Os EUA lideraram o caminho para as profundezas do mar até a década de 1860. Na sequência, a Marinha Real britânica, não tendo mais que apoiar as tropas na Crimeia, preencheu o vácuo deixado pelos EUA quando o país entrou em guerra civil.
Entender mais sobre a topografia do oceano se tornou mais urgente quando a telegrafia se tornou mais difundida, diz Rozwadowski — a única maneira de os telégrafos conectarem a América do Norte ao Reino Unido, por exemplo, era por meio de cabos colocados ao longo do fundo do mar.
“Paralelamente a isso, existe essa tradição de dragagem da história natural marinha, que começou muito no Reino Unido e algumas outras pessoas adotaram nos Estados Unidos”, diz Rozwadowski.
“Pense em Charles Darwin, quando ele era um estudante em Edimburgo, aprendeu a dragar.”
De fato, um dos colegas de Darwin, o naturalista Edward Forbes, foi um defensor entusiasta da dragagem marinha como uma contribuição para os estudos da vida no fundo do mar.
O próprio Darwin não tinha certeza do que poderia ser encontrado em tal profundidade, “mas ele pensou que haveria coisas fossilizadas que poderiam nos ajudar a entender mais sobre a evolução”, diz Rachel Mills, diretora de ciências da vida ambiental na Universidade de Southampton, no Reino Unido.
“Você tem essas duas vias paralelas que finalmente se juntam com o Challenger.”
“Mas, na verdade, houve duas viagens antes do Challenger, a do HMS Lightning foi a primeira, e a do HMS Porcupine, a segunda.”
“Essas viagens foram organizadas entre a Royal Society (instituição britânica dedicada à promoção do conhecimento científico) e a Marinha — exatamente como a do Challenger seria organizada, era o mesmo grupo de pessoas.”
“O Lightning e o Porcupine são enviados para ver se é possível fazer sondagens e dragagem, para ver o que podiam encontrar”, acrescenta Rozwadowski.
Uma vez realizadas essas missões exploratórias, a missão Challenger foi aprovada pelo governo britânico em 1870, e a Marinha foi solicitada a providenciar um navio.
Muito parecida com a corrida espacial um século depois, a expedição deve sua existência em parte ao orgulho nacional, diz Penelope Hardy, professora de história na Universidade de Wisconsin La Crosse, nos EUA.
“Também é uma resposta à dragagem escandinava que encontrou crinóides, criaturas antes conhecidas apenas como fósseis, vivas no oceano. Em grande medida, é uma história tecnológica, parte do motivo pelo qual a (expedição) Challenger parece tão revolucionária é porque haviam chegado a um ponto em que a tecnologia permitia a eles ir mais fundo com a dragagem do que qualquer um já havia feito.”
“Mas uma das questões-chaves é que eles afirmam que estão começando a oceanografia, então todos compram essa história”, diz Hardy.
“[O oceanógrafo americano Matthew] Maury é o primeiro a usar o termo oceanografia em inglês. E o que é importante em relação a ele é que ele realmente vê o oceano como um sistema que precisa ser estudado junto, e é isso que pensamos da oceanografia, certo? Não é um lugar específico onde estão fazendo ciência, mas uma abordagem.”
Rozwadowski afirma que as descobertas do Challenger só se tornaram ainda mais importantes com o tempo, à medida que agora entendemos completamente os efeitos que a atividade humana tem nos oceanos.
“Eu defendo que a viagem do (navio) Challenger é o culminar de décadas de tecnologia, organização e perguntas sobre o mundo natural”, diz ela.
Os relatórios científicos que resultaram da expedição se tornariam “a base para a ciência moderna da oceanografia”, argumenta.
Quando o navio Challenger foi escolhido pela Marinha para a expedição, tinha pouco mais de uma década, tendo cumprido uma carreira sólida, mas nada notável. Seria a ciência, e não a guerra, que faria seu nome permanecer vivo ao longo da história.
“Eles tiraram as armas, mas ainda navegavam sob a bandeira da Marinha”, conta Mills.
“Estavam claramente confiantes de que não seriam atacados e poderiam dar a volta ao mundo fazendo escala em qualquer porto que escolhessem.”
A viagem do Challenger ao redor do mundo duraria 1.250 dias — algo árduo no século 21, quanto mais na década de 1870.
Embora a embarcação tivesse um pequeno motor a vapor, ele era usado principalmente para fornecer energia para a plataforma de dragagem ou para evitar que o navio ficasse à deriva quando fazia uma sondagem profunda, em vez de ajudá-lo a navegar pelo oceano. A maior parte da jornada épica da embarcação foi à vela.
Mills tem alguma experiência de como podem ser as viagens oceanográficas — na década de 1990, no início de sua carreira, ela participou de uma expedição à Dorsal Mesoatlântica em um navio científico russo.
Embora cerca de 120 anos tenham se passado, havia algumas semelhanças.
“A vida a bordo de um navio russo pode ser desconfortável às vezes”, diz ela.
“Embora ninguém contraísse escorbuto, é justo dizer que a comida que comíamos não era uma alimentação balanceada.”
O Challenger zarpou em dezembro de 1872 do porto de Portsmouth, na Inglaterra, durante um inverno britânico particularmente rigoroso. O navio seguiu para o sul em direção a Portugal, onde o químico John Buchanan mais tarde afirmaria audaciosamente que a expedição havia dado início a um campo inteiramente novo da ciência.
“Buchanan diz mais tarde em seus registros, ‘a ciência da oceanografia nasceu no mar’, e dá uma data e uma latitude e uma longitude, quando o Challenger faz a sua primeira dragagem realmente profunda na costa de Portugal”, explica Hardy.
“Eles estão, claro, reivindicando a origem para si próprios.”
O Challenger era liderado pelo capitão da Marinha George Nares e pelo cientista-chefe Charles Wyville Thomson, que mais tarde receberia o título de cavaleiro por seu trabalho na expedição.
Foi Thomson quem persuadiu a Marinha Real a emprestar o HMS Lightning e o Porcupine para as operações anteriores de dragagem nas profundezas do mar da costa da Noruega.
O aparecimento dos crinóides havia entusiasmado Thomson. Mas o mesmo acontecia com a riqueza de outros animais trazidos das profundezas do oceano. Thomson queria saber o que uma viagem mais longa e ambiciosa poderia encontrar em lugares profundos ao redor do mundo.
O navio transportava uma equipe de cinco cientistas, um patologista (que retalhava os corpos para serem dissecados) e um artista oficial, ao lado de 21 oficiais da Marinha e 216 tripulantes.
“É incrível pensar em todas essas pessoas juntas por três anos e meio navegando ao redor do mundo”, diz Judith Wolf, cientista do Centro Nacional de Oceanografia de Liverpool, no Reino Unido, que também é membro da Challenger Society.
O Challenger estava repleto de equipamentos para sua nova função — de frascos de vidro para guardar amostras e álcool para conservação a barômetros, equipamentos de dragagem, termômetros de água e recipientes especiais para recolher animais e detritos do fundo do oceano e trazê-los à superfície.
“Todos os cientistas estão a bordo, e passaram a semana ocupados arrumando seu equipamento”, escreveu o assistente de comissário de bordo Joe Matkin a seu primo pouco antes do início da viagem.
“Há algumas milhares de pequenas garrafas herméticas e pequenas caixas do tamanho de caixas de Valentine acondicionadas em tanques de ferro para manter as amostras dentro, insetos, borboletas, musgos, plantas, etc. Há uma sala fotográfica no convés principal, e também uma sala de dissecação para retalhar ursos, baleias, etc. ”
Também havia corda ? muita corda. Quando zarpou, o Challenger carregava mais de 291 km de corda de cânhamo italiana, o suficiente para estendê-la de Londres às Ilhas do Canal.
De acordo com a Challenger Society, cada sondagem era mais do que uma simples leitura de profundidade usando linhas de prumo.
Em vez disso, era um processo para várias observações científicas: a profundidade exata era determinada, amostras de lodo e água eram trazidas do fundo do mar, as temperaturas eram registradas em uma série de profundidades, e por meio de dragagem e redes de arrasto a fauna era coletada.
“O Challenger realizou 362 sondagens durante sua viagem”, revela Wolf.
“Cada vez que eles tinham que fazer uma sondagem, eles também baixavam uma draga e puxavam para cima tudo o que podiam.”
A draga iria despejar enormes quantidades de lama pegajosa — parte dela, formada por restos de vida marinha morta há muito tempo — no convés do navio.
“Era um trabalho enfadonho (para os marinheiros)”, diz Wolf.
Embora os termômetros não fossem tão precisos quanto os usados hoje, os rigorosos métodos usados para marcar as temperaturas na água são úteis para os cientistas ainda hoje, diz Mills.
“As leituras talvez não fossem muito exatas, mas eram precisas, então os cientistas de hoje podem ajustar isso… a diferença entre as temperaturas da superfície e do fundo era muito precisa. Isso por si só é muito útil para os cientistas hoje.”
O Challenger navegou primeiro até as Ilhas Canárias antes de cruzar o Atlântico para as Bermudas e atravessar novamente para Cabo Verde, com um desvio para o norte até o Canadá ao longo do trajeto.
De Cabo Verde, o navio cruzou o Atlântico novamente, avançando lentamente pela costa do Brasil antes de chegar a Tristão da Cunha, perto do Cabo da Boa Esperança, em outubro de 1873.
De lá, o Challenger atravessou as vastas extensões vazias ao sul dos oceanos Índico e Pacífico, tão ao sul que encontrou icebergs.
Em março de 1874, estava na Austrália, zarpando para a Nova Zelândia alguns meses depois, antes de navegar para as ilhas da Polinésia e fazer uma viagem tortuosa pelo Sudeste Asiático.
Quase um ano depois, o Challenger atracou em Yokohama, no Japão, antes de explorar as ilhas do Pacífico e as águas costeiras da América do Sul, antes de navegar ao redor do Cabo Horn em janeiro de 1876.
Depois de passar mais cinco meses explorando várias partes do Atlântico, o navio voltou para casa em maio de 1876. Regressou, no entanto, com apenas cerca de 140 pessoas de sua tripulação a bordo devido a mortes e deserções.
A tripulação do Challenger se gabou de ter visitado todos os continentes, exceto a Antártida. As temperaturas extremas e condições do mar são desafiadoras até hoje.
“Tento imaginar como essas pessoas conseguiram sem os tecidos de alta tecnologia e coisas para nos manter aquecidos”, diz Hardy, que é veterana da Marinha dos Estados Unidos.
“O pessoal da Marinha fazia uma gozação amigável com os cientistas alguns deles tinham passado algum tempo no mar, mas a maioria não tinha muita experiência, então tiravam sarro deles por não saberem os termos para as coisas a bordo.”
“Assim que eles deixam o porto, logo enfrentam mau tempo, e os oficiais da Marinha dizem: ‘Que bom, é uma boa sacudida para nos certificar de que está tudo pronto’, e todos os cientistas se retiram para seus aposentos e não são vistos novamente até que o tempo melhore.”
Os cientistas e oficiais navais dominam os registros. Encontrar as vozes dos marinheiros comuns é muito mais difícil, diz Hardy. As cartas do assistente de comissário de bordo Matkin são talvez o melhor registro.
“Ele conta muitas histórias que sugerem que a tripulação ficou menos entusiasmada com tudo isso”, diz ela.
“Pensa só, esses caras estão dragando grandes quantidades de lama, essencialmente, do fundo do oceano e despejando no convés, e todos esses marinheiros estão tendo que fazer todo o trabalho braçal e depois limpar tudo.”
Foi em março de 1875 que o navio Challenger fez uma de suas descobertas mais surpreendentes, quase completamente por acaso.
Perto de Guam, a tripulação estava fazendo uma de suas sondagens regulares. Mas o navio estava, por acaso, acima do que agora sabemos ser a Fossa das Marianas, um vasto canal entre duas placas tectônicas que se estende por quase 2.560 km.
O Challenger esbarrou nela por acidente, algo que Mills descreve como “realmente fortuito”.
A sondagem mediu uma profundidade de 8,1 km é a parte mais profunda do oceano já descoberta. Hoje chamamos seu ponto mais profundo de Challenger Deep.
O trabalho foi árduo e aumentou imensamente o conhecimento humano sobre o que vivia tão abaixo da superfície do oceano. Novas espécies foram descobertas em um ritmo extraordinário.
“Em todos os lugares que paravam, eles enviavam de volta caixotes de amostras sempre que podiam”, diz Wolf.
As espécimes coletadas pelo Challenger — de minúsculos crustáceos a grandes tubarões oceânicos — tiveram como destino inicial a Inglaterra e foram posteriormente distribuídas entre instituições científicas de todo o mundo.
“Eles decidiram que os grupos taxonômicos seriam estudados por quem era o especialista na área, fosse ele alemão, americano ou quem quer que fosse”, explica Rozwadowski.
“Essa é uma das razões pelas quais os relatórios tiveram um poder tão duradouro. Eles foram escritos por especialistas, não importava quem fosse ou onde estivesse, foram escritos por pessoas que eram consideradas autoridades na área.”
“A construção de uma rede e a distribuição desses resultados também pode ser vista como bastante fundamental para a formação de um campo [de estudo científico]”, diz Hardy.
Se a viagem em si foi longa, nada se compara ao tempo necessário para reunir tudo o que haviam encontrado. Os relatórios levaram 23 anos para serem concluídos; Charles Wyville Thomson morreu alguns anos depois da empreitada, aparentemente devido à exaustão nervosa causada por ter que lidar com os editores.
“Chegou a 50 volumes”, conta Wolf.
“E cada um desses volumes tinha a espessura de uma Bíblia.”
Milhares dos espécimes preservados pelo Challenger ainda existem, grande parte deles no Museu de História Natural de Londres, mas há outros espalhados por acervos de instituições em todo o mundo.
De acordo com Mills, há um novo ímpeto para investigá-los, que poderia fornecer informações novas e vitais para os cientistas hoje.
A crescente quantidade de dióxido de carbono na atmosfera em decorrência da atividade humana está, aos poucos, fazendo com que os oceanos se tornem mais ácidos. As leituras e espécimes do Challenger “se tornaram a base para o início da Revolução Industrial”, afirma Mills.
Amostras de animais coletadas na viagem ainda estão sendo usadas para entender como os oceanos mudaram desde aquela época.
“Se você está estudando um determinado marisco e sabe que as conchas estão ficando mais finas por causa da acidez crescente dos oceanos, é porque temos o registro de como eles eram 150 anos atrás, graças ao Challenger”, explica Mills.
É importante ter em mente também que, quando o Challenger navegava pelos oceanos do mundo, não havia plástico. Todos os milhares de animais e amostras de água que a tripulação coletou, estão livres de partículas de plástico.
Cento e cinquenta anos depois de ter zarpado, o trabalho árduo do Challenger está abrindo novas maneiras de vislumbrar como nossos oceanos estão mudando, muito além dos nossos olhos.
(Fonte: https://www.bol.uol.com.br/noticias/2021/03/21 – NOTÍCIAS / por Stephen Dowling – BBC Future – 21/03/2021)
(Fonte: https://marsemfim.com.br/oceanografia – OCEANOGRAFIA / Embarcações / De Pesquisa / Oceanos / História Marítima / Por João Lara Mesquita – 29 de julho de 2020)