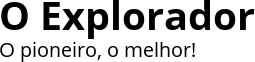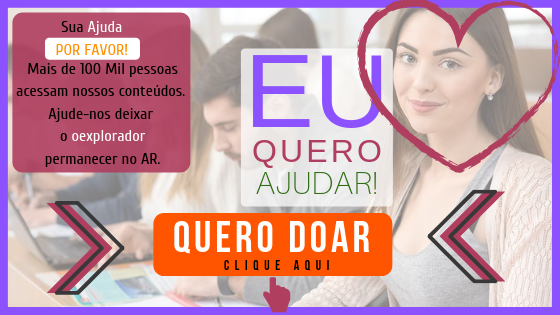Almir, o brigão
6 de fevereiro de 1973 – O jogador Almir Moraes Albuquerque, o “Pernambuquinho”, levou um tiro na cabeça ao se envolver em uma briga no bar Jiro-Jerez, no Rio de Janeiro (RJ). Ele tinha 35 anos e ficou conhecido como o primeiro bad-boy do futebol brasileiro.
(Fonte: http://www.guiadoscuriosos.com.br/ – Fatos do dia – 6 de fevereiro)
Almir (Recife, 28 de outubro de 1937 Rio de janeiro, 6 de fevereiro de 1973), era invariavelmente classificado como herói, ou então, o que era mais frequente, como o mais pérfido vilão do futebol brasileiro de todos os tempos. Começou sua trajetória futebolística no Sport Club Recife em 1956 e, logo transferiu-se para o Clube de Regatas Vasco da Gama, juntando-se a outros conterrâneos já famosos como o centro-avante Vavá. Atacante hábil e de muita disposição em campo, ganhou títulos e foi convocado para a Seleção Brasileira mas desistiu de uma das chamadas para excursionar com o clube carioca e isso o deixou “marcado” e sem chances de ir para a Copa do Mundo de 1958.
Almir soube fazer alguns contratos milionários. Quando veio para o Corinthians, em 1960, quase provocou um motim de companheiros menos aquinhoados em seus envelopes de pagamento.
Mas nunca foi, nem admitiu ser, um jogador excepcional. “Quem pode ser excepcional num país que tem Pelé?” indagava o próprio Almir.
Por onde passou – No entanto, marcou indelevelmente sua passagem pelos campos de futebol do Brasil e do mundo. De 1957 a 1967 jogou no Vasco da Gama, no Corinthians, no Boca Juniors da Argentina no Fiorentina e no Gênova da Itália, no Santos de Pelé e Cia., no Flamengo. Encerrou sua carreira no modesto América carioca, uma curta permanência que lhe permitiu, porém, desafiar o time inteiro do Olaria para uma briga.
E sempre por onde andaram seu temperamento, sua incapacidade confessa de admitir uma derrota e uma ambição nunca desmentida, eram colocados à disposição de dirigentes esportivos, os chamados cartolas, de juízes ávidos de notoriedade, de treinadores e até mesmo de ex-companheiros que não se animavam jamais a expor-se tão abertamente aos pontapés, às punições disciplinares, às críticas da imprensa, ao ódio.
Muitos dirigentes logo se diziam arrependidos de ter contratado Almir. Mas todos os que lhe acenaram com cruzeiros, liras ou pesos, se fossem honestos, diriam como Flávio Soares de Moura, do Flamengo: “Almir, eu estou comprando você e todo o rolo que você vai trazer.”
Nos longos papos nas concentrações do Santos, entre uma modorrenta partida de sinuca e um jogo de caixetas, há quem lembre do Almir andando de um lado para outro nos vestiários, como se fosse um touro enfurecido, antes do jogo com o Milan, em 1963, na decisão do Mundial de Clubes. Dizem até que as travas das suas chuteiras soltavam faíscas em contato com o piso de ladrilhos. No campo, essas mesmas travas seriam aplicadas nas canelas de Amarildo, de Trappatoni, de Pelagalli, de Rivera, com uma violência que fazia mais de 100 000 pessoas chegarem quase ao orgasmo no Maracanã. Sob o comando alucinado de Almir, que substituía Pelé, machucado, o Santos deu duas vezes no Milan e ganhou um título mundial. Almir, passada a efêmera glória de ver seu nome ovacionado em coro pela multidão, apenas viu reforçada a reputação de violento, de marginal do futebol, como tantas vezes foi chamado.
Ele entendeu o recado – Nas suas “memórias”, uma série de artigos publicados na revista “Placar”, a partir de relatos seus aos jornalistas Fausto Neto e Maurício Azedo, Almir revela com franqueza a razão de tanta fúria contra os italianos do Milan. Em primeiro lugar, eram jogos decisivos (o Milan havia ganho do Santos na Itália). Havia ainda um prêmio de 2 000 cruzeiros pela vitória e Almir não era de desprezar um dinheiro que “daria para comprar um Fusca zerinho”. E ele conta com pormenores e dando nomes aos personagens, fato raro nas histórias semi-escandalosas sobre o futebol, o que aconteceu naquele vestiário: “Seu Moran (Nicolau Moran, diretor do Santos, falecido) foi muito franco. Deu o recado direto. Ele me chamou num canto e disse: “Você pode fazer o que quiser no campo. Faz o que achar melhor. O juiz não vai fazer nada”. Moran já tinha feito sua parte convencendo o juiz, o argentino Juan Brozzi, a ajudar o Santos. E Almir, estimulado pelo seu “recado”, e por alguns comprimidos de Dexamil fornecidos por um auxiliar do técnico Lula, cumpriu sua parte.
Num jogo pelo Flamengo, decisão do Campeonato Carioca contra o Bangu, em 1966, depois de um primeiro tempo em que o Flamengo perdia de 2 a 0, o diretor Flávio Soares de Moura procurou Almir no intervalo e perguntou-lhe em tom dramático: “Eles vão dar a volta olímpica? Eles vão dar a volta olímpica, Almir?”
O Bangu ganhou, mas não deu a volta olímpica, cerimônia que corresponde à sagração de um título. Aos 25 minutos do segundo tempo, Almir acabou com o jogo envolvendo os dois times num dos maiores conflitos da história do futebol. Ele entendera o recado.
As duas pernas – Falar de Almir apenas como um menino comportado levado para o mau caminho, seria ingenuidade. Ele mostrou sempre uma disposição muito grande para a briga e aceitava sem nenhum constrangimento propostas como as de Moran ou Soares de Moura, aos quais, nas suas “memórias”, refere-se como homens que tratavam bem os jogadores, eram francos e honestos. Enfim, eram da “pesada” para Almir, tipos adequados para vencer num ambiente contaminado pela corrupção e pela violência.
Agressões, comprimidos de Dexamil, tumultos, manchetes berrando que era um assassino, um celerado, acompanharam toda a vida futebolística de Almir. Nos momentos em que os protagonistas da tragicomédia do futebol deixavam cais suas máscaras, ele assumia sempre o papel principal.
Dia 6 de fevereiro de 1973, quando o dia começava a nascer em Copacabana, o corpo de Almir estava na calçada da avenida Atlântica. Muito menos os motivos da briga, que teria sua origem num tapa de Almir num dos homossexuais que lhe dizia piadinhas. A atitude de Almir provocou uma reação dos ocupantes do bar Rio Jerez, ao lado da galeria Alaska, onde Almir estava com amigos, bebia cerveja e participava de sua última briga, instalando-se então o chamado conflito generalizado.
Mas o destino quis que Almir morresse ali, com a cabeça perfurada por uma bala talvez atirada a esmo, o seu fim trágico fez com que seu nome voltasse às manchetes dos jornais como nos velhos tempos em que era citado como herói ou vilão.
– É quase certo que Almir não fosse nem uma coisa nem outra. Somados todos os episódios em que se envolveu nos seus tumultuados onze anos de profissão, tem-se a impressão de que ele muitas vezes assumiu um papel que lhe impingiram e que oscilava entre o sacrifício extremado em nome do bem e o mal irreparável. Tudo para satisfazer interesses, e muitas vezes apenas para tornar o espetáculo-futebol mais movimentado.
Sua morte violenta é pouco mais que uma coincidência. Serviu, no entanto, para que ele passasse por uma espécie de reavaliação e acabasse redimido por muitos dos que o atacavam.
Feitas as contas, verifica-se que, na longa guerra travada por Almir, ele acabou sendo a grande e única vítima. Aos 34 anos, há apenas cinco afastado dos campos, sua fortuna pessoal resumia-se a três apartamentos alugados em São Paulo. E as pernas que quebrou foram duas, um índice que o coloca, no máximo, ao lado de jogadores que gozam do mais alto conceito como esportistas e homens de bem, casos de Gérson e do próprio Pelé.
(Fonte: Veja, 14 de fevereiro de 1973 – Edição n° 232 – ESPORTE – Pág; 30/31)
- Almir Moraes Albuquerque, o Pernambuquinho, o primeiro bad-boy do futebol.