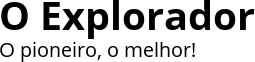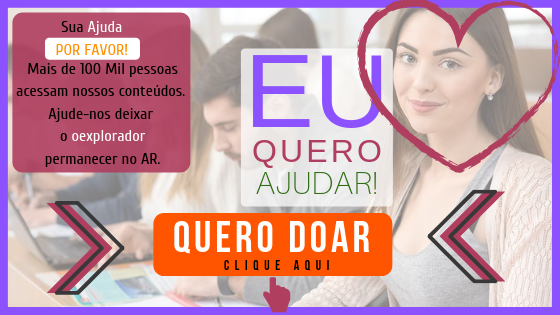Alexandre Eulalio (18 de junho de 1932- São Paulo, 4 de junho de 1988), intelectual, crítico, historiador, discípulo de Augusto Meyer e de Brito Broca, intelectual obsedado pela recuperação de textos e biografias que o tempo soterrou, Alexandre impôs-se desde sempre – na expressão de Calil – “a responsabilidade de preservar”, que ele atualiza através de uma leitura inventiva, integrada e iluminadora, cujas faces oscilam entre a literatura e a pintura, a arquitetura e a música, sem esquecer o teatro e o cinema (é autor de um filme sobre Murilo Mendes), sempre ao encalço de uma “plataforma multidisciplinar” para a qual o ponto de chegada é a representação visual no contexto de um determinado tempo histórico.
É esse crítico de associações infindáveis, “inventor involuntário do hipertexto” e capaz, por exemplo, de nos revelar, num relance, uma sequência inteira de talentos esquecidos; é o rastreador dos poemas obscuros e das telas mal pintadas, que Calil aproxima de Paulo Emílio Sales Gomes por suas afinidades ao que é “bárbaro e nosso”, é esse o crítico que os ensaios de Tempo Reencontrado nos revelam.
É verdade – e este é um ponto que interessa de perto à recepção do livro – que acompanhar os seus movimentos de leitura não é tarefa das mais simples. Diante das análises e associações de Alexandre Eulalio, a impressão que nos fica é a de vagarmos no mar alto da reflexão cruzada e simultânea, seja no plano da leitura estilística e da morfologia dos textos, seja no das articulações da figuração visual com o substrato de suas referências.
Ao buscar compreendê-las, o melhor caminho para o leitor será integrar as perspectivas que se abrem sem nunca perder de vista os três planos em que parece assentar o seu processo de leitura. O primeiro deles é o da pesquisa sincrônica do contexto estético e histórico das obras, mas também dos autores, dos estilos e dos períodos, em cujo centro – como uma espécie de eixo iluminador intransferível – Alexandre se lança às expansões comparativas e multidisciplinares mais inesperadas.
Em Tempo Reencontrado, é talvez este o filão mais rico para o leitor atento. É dele, por exemplo, que ressalta o alcance vertiginoso da imaginação crítica interessada em nos revelar em que medida os jogos de paródia e o tom herói-cômico do capítulo 48 Terpsícore) do romance Esaú e Jacó (1904), de Machado de Assis, acabam suscitando no pintor Aurélio de Figueiredo o travejamento heurístico que, segundo Alexandre, servirá de roteiro ao quadro A Ilusão do Terceiro Reinado (1905), talvez a mais famosa de suas telas.
Aqui, preocupado em reafirmar a sua hipótese, Eulalio recupera uma velha crônica do Jornal do Commercio de 10 de novembro de 1889, em que Raul Pompeia – como testemunha do último baile da Ilha Fiscal – registra “no calor da festa” as infinitas sensações visuais de que o crítico se vale para “reencontrá-las” num relato do próprio punho do pintor Aurélio de Figueiredo, de março de 1907, onde julga redescobrir “o feérico roteiro das fantasmagorias projetadas”, naquele mesmo cenário, pelas personagens do referido capítulo do romance.
Como estas, seriam muitas as correlações a assinalar nesse primeiro plano da crítica de Alexandre: a “perplexidade criadora” de um Henrique Alvim Correia ante as marcas insanáveis da violência; o itinerário de Cornélio Pena entre a ficção e as primeiras impressões visuais hauridas em Gustave Moreau; a presença virtual de Giorgio de Chirico (A Melancolia da Partida) como base preliminar para um estudo meticuloso da obra múltipla de Jorge de Lima.
Mas o que amplia as dimensões da leitura é a incansável imaginação restauradora que vasculha no tempo os sinais ocultos dos valores perdidos. E aqui é como se as trilhas nos conduzissem para um largo espectro de panoramas dispersos e tão surpreendentes quanto a trajetória burlesco-caricatural de um Aluísio Azevedo refundindo cenários assimétricos na “abordagem brincalhona da escrita encarada como grafomania” (Matos, Malta ou Matta?: Romance ao Correr da Pena). Ou a da escavação dos lineamentos literários do conto Luís da Serra, de Lúcio de Mendonça enquanto escritor de transição, para não citar o balanço trágico da Geração dos Insubmissos proposto por Gonzaga Duque em Mocidade Morta.
A marca do crítico, no entanto, só se completa num o terceiro momento desse processo: o da escrita inventiva que se “cola” aos textos estudados e deles se alimenta, como se Alexandre, para falar de um autor, se obrigasse ao exagero de “reproduzir” o seu estilo, o que obrigava a refazer o contexto inteiro de seu processo de composição.
Coisa singular, convenhamos, e muito longe do nosso tempo, em que os riscos da leitura inventiva como que perderam sentido ante as imposições, cada vez mais urgentes, da crítica como divulgação palatável aos critérios cada vez mais pragmáticos do mercado editorial.
Tempo Reencontrado, coletânea de ensaios de Alexandre Eulalio (1932-1988) organizada por Carlos Augusto Calil, oferece ao leitor uma experiência enriquecedora que não deixa de trazer consigo um breve, mesmo que velado, sentimento de perda.
(Fonte: http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer – CULTURA/ Por Antonio Arnoni Prado 14 de setembro de 2012)
BIOGRAFIA DISCRETA
Nascido na então capital do Brasil, em 18 de junho de 1932 (filho de Elisiário Pimenta da Cunha 1890-1961 e Maria Natália Eulalio de Sousa da Cunha 1891-1974), o carioca Alexandre Magitot Pimenta da Cunha ao atingir a maioridade “naturalizou-se” cidadão diamantinense e trocou o inadequado prenome Magitot pelo familiar Eulalio, lembrança do clã materno e mais condizente com o seu obsessivo culto à ancestralidade mineira.
Apesar das férias escolares regularmente transcorridas na terra de adoção, até 1965 sempre viveu no Rio de Janeiro, onde seguiu todos estudos: Scuola Principe di Piemonte (1937-1941); Colégio São Bento (1942-1948); Colégio Andrews (1949-1951) e por último Faculdade Nacional de Filosofia (1952-1955), quando, “após uma crise típica (típica na sua demagogia) de jovem filho-família na América Latina”, abandonou a Universidade desistindo do diploma acadêmico.
A sua formação autodidata foi predominantemente dirigida para a estética. Teve a sorte de ter como exigente mentor intelectual seu primo Sílvio Felício dos Santos (1908-1986), sobrinho bisneto do autor das Memórias do Distrito Diamantino, de cuja reedição participaria em 1956. Com essa relação tornou-se impossível evitar também o comichão da pesquisa histórica.
Interessado pelo passado brasileiro, tanto no campo material como no da cultura, ainda jovem enveredou pela história das idéias, a princípio através de dois projetos dialeticamente complementares. No primeiro, dedicou-se à elaboração da biografia de Dom Luís, no seu modo de ver, o mais ilustre dos netos de Dom Pedro II, que, muito preocupado com a realidade brasileira, tentou agitar politicamente o país com idéias sociais, pouco divulgadas no seu tempo. Alexandre deixou um vasto material iconográfico e documental, inclusive esboços, notas, discursos sobre membros da família real e um estudo dedicado a Dom Luís – Journal du Guerre (1960), mas infelizmente não chegou a concluir o perfil biográfico do príncipe. Em compensação, investiu tempo e energia para colaborar com outros historiadores do período.
Criou legendas, que se constituem num autêntico tratado estético-cultural da época, para as iconografias dO Palacete do Caminho Novo (1975) de Afonso Arinos Da mesma forma a seleção e os comentários das ilustrações inseridas na reedição da História de Dom Pedro (1977) enriqueceram esta obra de Heitor Lira publicada também com prefácio – “O Ofício de Escrever” – e estabelecimento de texto de Alexandre. A pesquisa em torno de Dom Luís o levou a relacionar-se cordialmente com o ramo dos Orléans e Bragança de Petrópolis e da Itália. Nas solenidades ligadas à família imperial, deslocava-se para o Palácio do Grão-Pará a fim de cumprimentar Dom Pedro Gastão com quem mantinha correspondência. Sempre que ia à Itália não deixava de visitar os Orléans e Braganças que reinavam no Castelo d”Alba.
Quanto ao segundo projeto, além de recuperar vários textos de Joaquim Felício dos Santos, preparou a edição anotada da sátira utópica estampada n”O Jequitinhonha de Diamantina (1868-1871) – Páginas do Ano de 2000 (1957). Não parou por aí. Deu forma de livro ao lúcido e bem fundamentado ensaio dedicado ao conjunto da obra literária do historiador conterrâneo – Cronista Romântico (1976).
As investigações a respeito dessa entusiástica visão feliciana antimonarquista e o projeto sobre aquela curiosa figura da realeza serviram de base para Alexandre pleitear uma estadia nos Estados Unidos pela Fundação Guggenheim (1967-1969). Estas pesquisas abriram-lhe perspectivas originais para uma série de estudos instigantes e densos nos diferentes campos da cultura (música, pintura, arquitetura, literatura, cinema, etc.) sobre o período de transição que vai do Segundo Reinado à Primeira República. Momento decisivo da formação do país, aliás, uma fase rica da vida cultural brasileira em cuja direção Alexandre conduziu freqüentemente seu olhar crítico e revitalizador. Para muitos desses trabalhos, a cidade de Diamantina – a sua passárgada – serviu de inspiração. Não foi à toa que, pouco antes de morrer, a Prefeitura local concedeu-lhe o Brasão diamantinense, recebido carinhosamente como a mais prestigiosa honraria do planeta.
Alexandre começou a atuar profissionalmente na imprensa carioca e mineira desde o início dos anos 50, realizando anonimamente reportagens de interesse histórico-cultural e mantendo colunas fixas em vários jornais (no Diário Carioca, 1953-1955, ainda estudante de filosofia, publicou, entre outros, três ensaios importantes e muito atuais: “Uma farsa de Cromelynck”, “O Édipo de Gide” e “Retrato do Tiradentes”; no Correio da Manhã, 1954-1965, da mesma forma escreveu longos artigos “Noble Brutus”, “Relendo Hesíodo”, “Helena Morley vinte e dois anos”, e manteve a seção Fato Literário, juntamente com Fausto Cunha; no Jornal de Letras assinou a coluna Notas de uma Agenda, 1955-1963; nO Globo, 1964-1965, publicou dezenas de textos avulsos e criou as colunas Matéria & Memória e Turismo. Nesta última escondia-se sob o pseudônimo de Roberto Sousa. Em consonância com sua “vocação viajeira”, produziu para este jornal uma série de crônicas-reportagens – “Estados Unidos a jato” (1964) – permeadas de impressões bem humoradas e observações curiosas sobre sua visita aquele país, a convite do Departamento de Estado, dentro do Foreign Leaders Program; e finalmente no Jornal da República, 1979, escreveu uma meia-dúzia de artigos, dos quais a concentrada escrita poética de “Ampulheta de Borges” e as pinceladas de ironia em “O Ceasa de Eckout” são lapidares.
Escritor meio esquivo, não obstante a quantidade de artigos e ensaios dispersos em jornais e revistas, publicaria apenas um livro A Aventura Brasileira de Blaise Cendrars (1978) premiado pelo Pen Club do Brasil em 1979. Obra esta que recebeu o aplauso de críticos renomados e revelou o outro lado da sua paixão de escritor: as manifestações de vanguarda. Afora Cendrars, Corbusier, Murilo, Glauber, os Beatles, muitas outras expressões de modernidade mereceram análises iluminadoras deste crítico especialista no século XIX e na família imperial brasileira. Notável também foi o exercício cuidadoso de tradutor – O Belo Antonio (1962), Nathanael West (1964) e Isadora (1985). De Borges, um dos seus autores preferidos, traduziu uma coleção de textos divulgados na inesquecível Senhor e na revista Leitura, quando pouco se conhecia do escritor argentino no Brasil. Inclusive elaborou de encomenda para a Nova Fronteira, em convênio com a editora italiana Franco Maria Ricci, a tradução integral de O Congresso do Mundo (1983).
Trabalhou sistematicamente em torno da nossa história literária. “O Ensaio Literário no Brasil” (1962) rendeu-lhe o Prêmio Brito Broca, instituído pelo jornal Correio da Manhã, através da coluna Escritores e Livros de José Condé. Como a premiação implicava também na edição do texto pela Editora José Olympio, é possível que tenha postergado infinitamente a sua publicação com o objetivo de aprofundar este panorama crítico evolutivo de 150 anos da nossa prosa de não ficção. Na linha de ensaios abrangentes, “A Literatura em Minas Gerais no Século XIX” (1982), vinte anos depois, faria dessa vez uma análise recuperadora do “passado vivo estadual” lembrando autores e obras marcantes no contexto cultural da província.
Não se interessou menos pela ficção, pela poesia e pelo cinema, mas divulgou muito pouco estes outros ângulos da sua personalidade de criador, basicamente em suplementos literários do Rio, Belo Horizonte e São Paulo. Concluiu o boneco de um livro de poesia conhecido somente em fragmentos – LT a Murilo Mendes – espécie de itinerário mitológico da obra do poeta-amigo, ilustrado com grafitos de outro amigo, o escultor português Charters de Almeida (para quem fez a apresentação da individual realizada no MASP, (1981). Exibiu a arte de “cineasta improvisado” na parceria do roteiro de O Homem do Pau Brasil e na direção de quatro curta-metragens. Um deles – Murilo Mendes: a poesia em pânico – recebeu o prêmio Governador do Estado de São Paulo (1978).
Na contabilidade de seus escritos salta à vista a quantidade de resenhas, prefácios, introduções e apresentações feitas geralmente sobre e para amigos, cujos textos ganharam vida própria e se transformaram em trabalhos luminosos para citar apenas “Um Lance Triplo de Dados. Mallarmé-Campos-Pignatari-Campos” (1976), “Pai de Família, mas Desconfiado” (1979), “Verso e Reverso de Gonzaga” (1983), “Exercício de Libertação” (1985), “Duas Palavras” (1986) e “Pano para Manga” (1987).
Durante quase uma década (1956-1965), sob o olhar cúmplice do mestre Augusto Meyer, comandou a mais importante revista literária da época – a Revista do Livro (INL). Redator chefe, cumpriu fantástica programação de editoração de inéditos de autores brasileiros importantes e repôs em circulação ilustres desconhecidos do grande público. Sem deixar também de divulgar textos de fôlego da sua própria lavra – “Cartas a Eduardo Prado” (1960), O Último Bom Selvagem (1960), “Cartas de Abdir a Irzerumo” (1964), “Carranquinhas” (1966), etc. A atividade de editoração não se limitou ao período da Revista do Livro, ficando à frente de vários projetos de vulto. Muitos deles ligados à sua região preferida como “Uma Educação Mineira: a Travessia de Joaquim de Sales” (1974), inédita edição anotada em dois volumes das mémórias desse conterrâneo ilustre. O outro projeto, também impulsionado por ligações afetivas, resultou na publicação da obra do jornalista Brito Broca, seu amigo e companheiro do INL. Planejada e pesquisada por Alexandre, que em vida publicou três volumes e deixou um praticamente concluído, a edição planejada para 16 títulos, englobaria toda a produção do colega dispersa em jornais. Meticulosamente estabelecia o texto, determinava as vinhetas, fazia os índices e escolhia a dedo os prefaciadores.
Apesar de não possuir qualquer diploma universitário, Alexandre era um verdadeiro “professor itinerante”. Autor de inúmeras palestras pelo mundo afora, muitos dos seus mais brilhantes ensaios tiveram origem a partir dessas conferências, caso por exemplo dos estudos sobre: Paulo Prado, Blaise Cendrars, Machado de Assis, Gonzaga Duque, Sérgio Buarque de Holanda, etc. Ensinou algum tempo no exterior como leitor brasileiro na Itália, comissionado pelo Ministério das Relações Exteriores, junto ao Instituto Universitário e Università degli Studi di Venezia (1966-1972), cabendo-lhe a regência da cadeira de língua portuguesa e de literatura brasileira. Nesse intervalo também atuou como Professor Visitante nas Universidades de Harvard, Princeton, Cambridge e Massachussets (set. 1966 a jan. 1967). Paralelo ao trabalho sistemático de divulgação da literatura brasileira por meio de conferências, aulas, organização de antologias – Stella della Vita de Manuel Bandeira (1971) -, revistas – Cineforum (número especial sobre o cinema brasileiro, 87, 1969) -, bibliografias e exposições – Mostra del Libro Portoghese (1966), da sua experiência veneziana nasceram os modelares ensaios machadianos – “A estrutura narrativa de Quincas Borba” (1967) e “Esaú e Jacó de Machado de Assis: narrador e personagem diante do espelho” (1971).
Mesmo sem muita vocação, Alexandre Eulalio não escapou à atividade burocrática e no seu exercício procurou torná-la mais amena e proveitosa, planejando e estimulando a promoção de eventos importantes. Enquanto Assessor Superior do Departamento de Assuntos Culturais do MEC, de 1972 a 1975, foi roteirista e orientador da mostra itinerante Tempo de Dom Pedro II e diretor dos filmes Memória da Independência Exposição Piloto e Arte Tradicional da Costa do Marfim; na condição de Chefe de Gabinete do Secretário Municipal de Cultura de São Paulo (1975-1979), entre outras iniciativas, montou as exposições José de Alencar e seu Mundo, seguida de Dom Pedro II e editou vários números especiais do Boletim Bibliográfico da Biblioteca Municipal Mário de Andrade. A partir deste momento, não obstante continuar mantendo a sua biblioteca carioca no endereço de Copacabana, fixou residência em São Paulo, à rua Bela Cintra num apartamento forrado de objetos de arte e livros que generosamente franqueava aos amigos, quando percebia algum de nós envolvido em determinado assunto sobre o qual sempre dispunha de boa bibliografia, ou melhor de preciosas sugestões. Atuou ainda como Comissário brasileiro junto ao Ministério das Relações Exteriores, dentro do programa França-Brasil (1984-1985). O desempenho na coordenação desta iniciativa estreitamento cultural entre os dois países valeu-lhe uma comenda do governo francês. A longa vivência de crítico e historiador da arte levou-o a participar do Conselho de importantes Museus (MASP, MAM, em São Paulo).
Alexandre esteve ligado a inúmeras outras atividades culturais no Rio de Janeiro e em São Paulo (palestras, cursos, exposições, etc.) particularmente na Casa Rui Barbosa e no Museu Nacional de Belas de Artes. São desse período a exposição sobre o autor de Menina Morta, organizada pelo amigo Marco Paulo Alvim, cujo catálogo estampou o conhecido ensaio, “Os Dois Mundos de Cornélio Pena” (1979); o ensaio Henrique Alvim Corrêa: Guerra & Paz (1981) também concebido para apresentar os trabalhos do artista reunidos na Casa Rui Barbosa; e a coleção Tempo Reencontrado em coedição com a Nova Fronteira, responsável pela publicação de dois livros até então inéditos – Mattos, Malta ou Matta? (1985) de Aluísio Azevedo e O Tribofe (1986) de Artur Azevedo. Possivelmente o ponto culminante de sua constante e sistemática atividade interdisciplinar foi a belíssima exposição – “Seculo XIX” – da qual foi um dos responsáveis, dentro da mostra maior – Tradição e Ruptura (1984), patrocinada pela Fundação Bienal de São Paulo.
O ano de 79 permitiu-lhe fechar um ciclo interrompido há quase um quarto de século com o abandono do curso de Filosofia, em 1955. O “escritor público”, formado solitária e basicamente nas colunas de jornais de grande circulação e em revistas especializadas, voltou à Universidade brasileira, como docente notorio saber no Departamento de Teoria Literária da UNICAMP. Na calma da província aquela figura alegre, irrequieta, participativa, de erudição espantosa quase ofuscava.
Como pesquisador universitário Alexandre retomaria pontos de interesse defendidos nos artigos dos anos 60 e atuaria compulsivamente em diferentes projetos ao mesmo tempo. Talvez o mais amplo e insistente tenha sido “Literatura e Pintura: simpatia, diferenças, interações” (1979), financiado pela FAPESP, em que valorizou a perspectiva comparatista outrora presente em artigos curtos (“O Ateneu: Inspeção”, 1962, “O Concreto Corbusier”, 1965) e analisada em profundidade nos textos – “De um Capítulo do Esaú e Jacó ao Painel dO último baile” (1983) e “Ainda Reflexos do Baile” (1984). Nessa fase acadêmica privilegiaria antigos temas e afeições literárias: a poesia de Jorge de Lima – “A Obra e os Andaimes” (1983), Tomás Antônio Gonzaga Lírico e Satírico – “O Pobre, Porque é Pobre, Pague Tudo” (1983), “Verso e Reverso de Gonzaga” (1983), bem como o planejamento e a organização dos volumes da obra do amigo Brito Broca.
Em Campinas montou nova residência, transferindo definitivamente biblioteca e objetos de arte – emblemas de suas afinidades e preferências culturais (retratos da família imperial, óleos do amigo Jorge de Lima, fotos de poetas – Murilo, o compadre O”Neill -, paisagens de Diamantina pintadas pela amiga Hilda Campofiorito, telas de Adão Pinheiro, desenhos de Maria Leontina, guaches de Alvim Corrêa, cálices e garrafas de Murano e outras lembranças). Desde 1980 passou a dividir seu tempo entre São Paulo e a nova casa campineira, até 4 de junho de 1988, quando faleceu.
(Fonte: http://www.unicamp.br/)
- Alexandre Eulalio