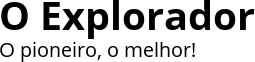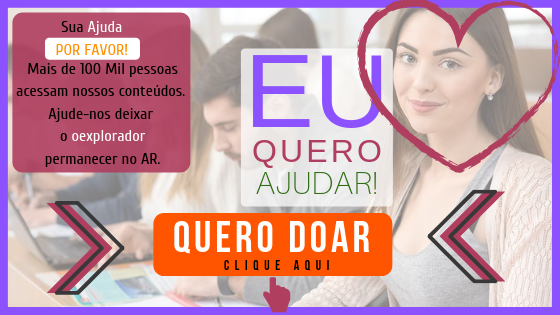Elizabeth Taylor (1932-2011)
O protótipo da beleza no cinema
MAGNETISMO
As imagens em alta definição das salas multiplex talvez façam esquecer que o cinema não passava de uma espécie de espetáculo de sombras em meados do século XX. Hoje a luz ofuscante do 3-D ou do iMax ricocheteia pelos olhos do público, tornando impossível a experiência de solidão que o velho teatro proporcionava. As imagens, oscilantes, eram projetadas sobre uma tela quadrada ou retangular. Os elencos atuais com corpos atléticos e atitude descolada ofuscam o padrão de beleza que Hollywood criou nos anos 40 e 50, de que Elizabeth Taylor era o protótipo mais perfeito. Seus cabelos negros e a pele alva faziam a moldura para os imensos olhos azuis-turquesa, a brilhar com uma nitidez que hoje poderíamos chamar de digital, como uma promessa de ardor que nenhuma tecnologia poderia dar no futuro.
Elizabeth Taylor foi uma deusa da beleza nos anos dourados de Hollywood. Uma divindade que arrebatou a imaginação das multidões que queriam se perder e se encontrar no breu do cinema, diante de seu charme eletrizante. Esse brilho trêmulo não poderia ser encontrado em outro ambiente que não o das salas de cinema. No auge do espetáculo mais popular do século passado, a imagem ampliada de Elizabeth reinava. Seu aspecto frágil, angelical e ao mesmo tempo fatal foi considerado um modelo. E ela, a mulher mais bela de seu tempo.
Elizabeth foi a diva do star system. Vigente dos anos 20 aos 50, esse sistema consistia no controle de toda a linha de produção cinematográfica, da ideia à distribuição, passando pela atenção à vida particular dos astros, as grandes atrações para conquistar as bilheterias. Suas existências eram produtos perfeitos e sua imagem deveria corresponder à realidade, pelo menos na aparência. Os atores eram orientados a sorrir e distribuir autógrafos a qualquer fã e a copiar no cotidiano a conduta de heróis que tinham nos filmes. Elizabeth se tornou a maior deusa do cinema na derradeira fase desse sistema.
Quando ele ruiu, a atriz conseguiu sobreviver a ele, enquanto tantas de suas colegas pereciam. Para isso, despiu-se da imagem virginal, enfrentou novos desafios de interpretação e desmascarou as armações do passado. Seu comportamento escandaloso, a partir do fim da década de 50, desagradou ao público ainda moralista e aos executivos fiéis ao código de postura dos estúdios. Dessa forma, ela colaborou ironicamente para a sobrevivência da indústria ao criar um novo tipo de glamour, mais vulgar, franco, sensual e, para muitos, muito mais sujo. Surgia a nova cultura das celebridades.
Seu tipo de formosura romântica foi saindo de moda, mas não a atitude liberada e desafiadora que adotou. O ator Richard Burton, um de seus sete maridos com quem se casou duas vezes , brincava de discordar de quem dissesse que ela era a mais bela do mundo. Dizer isso é um absurdo, afirmou em meados dos anos 60. Elizabeth tem olhos maravilhosos, mas seu tórax é exagerado e as pernas curtas demais. Não demoraria para sua beleza perder o cartaz. Até porque a altura reduzida 1,57 metro (inadequada para o novo padrão de estrela), a compulsão à gula, ao álcool e às drogas, além da saúde fraca, colaboraram com a decadência física de Elizabeth e levaram a sua penosa saída de cena, a partir dos anos 70. Mesmo assim, sobreviveu como famosa excêntrica: fanática por diamantes, colecionadora de maridos, militante de causas humanitárias e escrachada em suas declarações. Assim, conseguiu se manter na moda por quase 70 anos, mesmo tendo abandonado a atuação na última década.
O diretor Joseph L. Mankiewicz (1909-1993), que a dirigiu em dois de seus longas-metragens mais famosos De repente, no último verão (1959) e Cleópatra (1963) , viu-a pela primeira vez em Cannes nos anos 40. Ela foi a mais incrível visão de graça que presenciei em toda a minha vida. Era a pura inocência. Depois, ao dirigi-la, descobriu que beleza e talento poderiam combinar. Segundo o rigoroso diretor, ela era capaz de enfrentar os roteiros mais complicados, se não com genialidade, ao menos com talento. Ela vivia como se atuasse, disse Mankiewicz. Levou a vida em tempo de projeção. Rodou o filme de sua biografia, não raro misturando as interpretações do cotidiano com o que vivia tão intensamente nas telas.
Ela colaborou para a sobrevivência do cinema ao criar um glamour mais vulgar, franco e sensual Elizabeth pode ser mesmo descrita como uma criatura gerada por inteiro pelo cinema. Ou, melhor, de um tipo de cinema que hoje não se faz mais. Foi criada, educada, mantida e consagrada por um dos grandes estúdios dos anos 40 e 50 Metro Goldwin-Meyer , primeiro como atriz infantil, em seguida mocinha de comédias adolescentes e, finalmente, estrela de grandes dramas e épicos adultos. Só nunca estrelou um musical nos tempos do musical porque a única coisa que não sabia fazer era cantar.
Dançou aos 3 anos para a família real britânica, levada pela mãe, Sarah, que a dominou até os 18 e de quem fugiu para cair nos braços do jovem alcoólatra Nicky Hilton. Sarah a obrigou a cavalgar, e isso lhe valeu seu primeiro papel de destaque, A mocidade é assim mesmo. No filme, interpreta uma menina que doma um cavalo selvagem. Não teve formação teatral, mas, com a prática e a flexibilização da censura no show business, revelou-se uma atriz de fôlego, capaz de enfrentar os papéis mais difíceis. Atuar para mim é um ato instintivo, disse. O que tento fazer é dar o máximo de efeito emocional para o mínimo de movimento visual.
Mesmo muitas vezes esnobada pela crítica, suas atuações lhe renderam dois Oscars: o primeiro pelo papel de Gloria Wandrous, a garota de programa em Disque Butterfield 8 (1960), de Daniel Mann, com base no romance de John OHara. O segundo pela avassaladora interpretação de Martha, uma mulher 20 anos mais velha que ela, dilacerada por um casamento conturbado, em Quem tem medo de Virginia Woolf (1966), drama de vanguarda de Mike Nichols, baseado na peça de Edward Albee. Sempre franca, a atriz disse que detestava sua atuação em Disque Butterfield 8. E só ganhei o Oscar porque quase morri de pneumonia, afirmou.
Ela se achava privilegiada, mas enxergava sua beleza como um mero dom genético. Tive sorte em minha vida, disse em uma entrevista. Tudo me foi dado. Aparência, fama, saúde, honrarias, amor. O preço da sorte foram os desastres. À vista da plateia mundial, protagonizou o papel da mulher sensual que se apaixonava, metia-se em confusões e cenas de sangue e álcool diante dos paparazzi e era vítima de problemas de saúde e acidentes. Aprendeu também a morrer.
Em 1961, durante as filmagens de Cleópatra (que lhe rendeu US$ 1 milhão, o cachê mais caro até então recebido por uma atriz), em Londres, sofreu uma pneumonia dupla, entrou em coma e viu a morte de perto. Por quatro vezes me declararam morta, disse. Em dado momento, parei de respirar por cinco minutos. Deve ter sido um recorde. Quando uma traqueotomia a salvou deixando uma cicatriz no pescoço que pode ser vista em algumas sequências de Cleópatra , ela experimentou uma sensação peculiar: Tive a oportunidade de ler meu próprio obituário, afirmou. Foram as melhores críticas que já tive!
Os amigos disseram que ter encarado a morte fez Elizabeth desejar aproveitar mais a vida. O período correspondeu a seu envolvimento com Richard Burton (1925-1984), ator galês especialista em Shakespeare. Foi também o auge de suas atuações e de seu sucesso. Os dois fizeram nove filmes juntos, a maioria desprezível, mas pelo menos três memoráveis pela forma como misturaram vida e arte. Em Cleópatra, a eletricidade era tamanha no set que o diretor Mankiewicz muitas vezes mandou parar algumas cenas amorosas, sem ser obedecido. Em Quem tem medo de Virginia Woolf, o desempenho do casal foi considerado quase indecoroso, porque, dizia-se, os dois pareciam discutir a relação diante de milhões de pessoas e brigar de verdade.
Algo semelhante aconteceu em 1967, dessa vez numa comédia: A megera domada, de Franco Zeffirelli, sobre a peça de Shakespeare. Elizabeth e Burton discutiam e se estapeavam, entre choros e gargalhadas. A crítica duvidou que fosse apenas atuação. O trepidante circo Taylor-Burton, termo criado pelos jornais sensacionalistas, tornou-se o mais famoso do mundo e manancial de fotografias e furos de reportagem com suas constantes aparições e brigas em público. Os dois trocaram cartas exaltadas (reveladas em 2010 pela revista Vanity Fair), separaram-se, anularam o casamento e voltaram a se casar, para se separar em definitivo em 1976. Para a atriz, foi sua maior paixão.
A partir dos anos 70, o mito Elizabeth Taylor se voltou a causas sociais.
Foi uma das primeiras atrizes a fazer campanha pela cura da aids. Seus casamentos rarearam. Foram apenas dois: em 1976, com o político John Warner; e em 1991, com o pedreiro Larry Fortensky, 20 anos mais novo. Voltou poucas vezes a atuar. Em 1982, participou de duas peças na Broadway. Fez um papel na série de televisão Hospital geral (nas gravações, apaixonou-se pelo ator Tony Geary, mas não se casou com ele) e pontas em alguns shows. Em 1994, defendeu o último papel no cinema: de Pearl Slaghoople, a sogra de Fred na comédia Os Flintstones O filme. Foi seu 51º longa-metragem em 52 anos de carreira. Um papel banal, pelo qual recebeu o não tão singelo cachê de US$ 2,5 milhões.
O legado de Elizabeth Taylor vai além da beleza deslumbrante. Ela teve coragem de dirigir sua vida como se rodasse uma tragicomédia de resistência às adversidades. Sou um exemplo vivo do que as pessoas são capazes de fazer para sobreviver, disse. Mas não sou uma qualquer. Sou eu. Uma artista que encerrou com classe e algum barulho a era de ouro do cinema. Se pudesse ressuscitar, certamente não se surpreenderia com os novos obituários sobre ela. Mas daria boas risadas quando lesse a palavra deusa.
(Fonte: www.revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca – LUÍS ANTÔNIO GIRON – 25/03/2011)
- A atriz Elizabeth Taylor em 1959, no set do filme De repente, no últmio verão, de Joseph L.Mankiewic