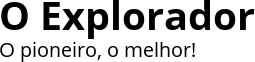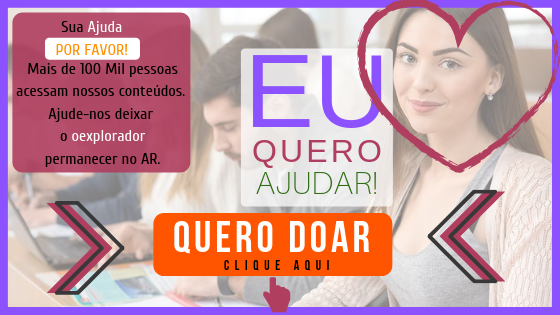John Russell, crítico de arte
John Russell, crítico de arte inglês, que durante décadas foi colaborador do The Sunday Times de Londres e no The New York Times, onde foi editor-chefe de arte entre 1982 e 1990.
Russell começou a se dedicar à crítica de arte em 1950. Na época, inusualmente aberto a novos talentos, teve importância de peso na carreira de artistas emergentes no período, como Francis Bacon, Lucian Freud e R.B. Kitaj (, ao escrever sobre eles no Sunday Times e em catálogos de mostras.
Russell também foi o autor de monografias sobre Seurat, Francis Bacon (1909-1992), Henry Moore (1898-1986), Max Ernst e da coleção intitulada The Meanings of Modern Arts.
John Russell, que contribuiu com crítica de arte elegante e erudita por mais de meio século para o The Sunday Times de Londres e o The New York Times, onde foi crítico de arte chefe de 1982 a 1990, e que ajudou a trazer uma geração de artistas britânicos do pós-guerra à atenção internacional, entrou para o The New York Times em meados da década de 1970, após contribuir com resenhas ocasionais de Londres.
Russell, um inglês, conquistou um público devotado por seu estilo literário, sua capacidade de apreciação apaixonada e a amplitude de seus interesses.
“Reading Russell”, uma coletânea de seu jornalismo publicada em 1989, incluía ensaios sobre Pushkin, Dietrich Fischer-Dieskau, Beatrix Potter (1866 – 1943), os muitos significados da bagagem e as belezas do Merritt Parkway em Connecticut.
A maior parte de sua prodigiosa produção foi dedicada à arte, notadamente suas monografias sobre Georges Seurat, Francis Bacon, Henry Moore e Max Ernst e a série de vários volumes “Os Significados da Arte Moderna”. Mas ele também produziu livros de viagem sobre a Suíça, Londres e Paris, uma biografia do maestro Erich Kleiber (1890 – 1956) e várias traduções conceituadas de romancistas franceses modernos.
“Trabalhando para o The New York Times, eu me vi escrevendo sobre arte, como já havia sido combinado”, ele escreveu na introdução do livro. “Mas eu também me vi escrevendo sobre o centenário do Dr. Albert Schweitzer, o bicentenário da Batalha de Lexington, as propriedades especiais da cor verde e o fato de que wisteria rima com histeria.”
Em 1984, os editores do jornal enviaram Russell para oferecer uma perspectiva diferente sobre as convenções nacionais republicana e democrata.
Produção sem esforço e de alto volume era sua marca registrada. Ao entrar no antigo prédio do Times na West 43rd Street em Manhattan, vestido com uma jaqueta xadrez ousada e meias vermelhas violentamente contrastantes, ele dizia alguns olás aos colegas suando com prazos, aplicava levemente os dedos no teclado e se levantava, talvez uma hora depois, tendo composto um artigo de longa duração sem uma palavra fora do lugar.
Por temperamento, um homem de letras à moda antiga, Russell era um apreciador que gostava de compartilhar seus entusiasmos; como consequência, alguns leitores e colegas críticos o acharam muito gentil.
“Não vejo meu papel como primariamente punitivo”, escreveu ele em “Reading Russell”. “Há artistas cujo trabalho temo rever, dramas de dança que, na minha opinião, fizeram a psique americana retroceder várias centenas de anos, compositores cujos nomes me afastam da sala de concertos, autores cujos livros nunca reabrirei de bom grado. Mas nunca me pareceu uma grande ambição passar pela vida rosnando e vomitando.”
John Russell nasceu em 1919 em Fleet, perto de Londres. Ele foi criado pelos avós em Strawberry Hill, um subúrbio de Londres, e frequentou a St. Paul’s School em Londres. Lá, ele lembrou, ele impressionou seu diretor, que, confuso com o termo “Surrealismo”, perguntou a uma sala de aula se alguém poderia explicá-lo. O futuro crítico de arte levantou a mão, foi escrever um ensaio e, depois de entregá-lo, foi informado no dia seguinte: “Russell, você pode ganhar a vida fazendo isso”.
Depois de estudar filosofia, política e economia no Magdalen College, Oxford, o Sr. Russell começou a trabalhar como estagiário não remunerado na Tate Gallery em 1940. Logo depois que ele começou, os alemães bombardearam o museu. Os funcionários do museu foram realocados para Worcestershire, onde o Sr. Russell escreveu seu primeiro livro, “Shakespeare’s Country”, aos 23 anos. Em 1944, ele publicou seu primeiro livro de arte, “British Portrait Painters”.
Durante a guerra, o Sr. Russell trabalhou para a divisão de Inteligência Naval do Almirantado. Ele também começou a escrever para a Cornhill Magazine de Peter Quennell e para a Horizon de Cyril Connolly, encorajado pelo excêntrico homem de letras americano Logan Pearsall Smith, cujo olhar aguçado para talentos emergentes já havia avistado o historiador de arte Kenneth Clark e o historiador Hugh Trevor-Roper. O Sr. Russell, ele escreveu a um amigo, “é um jornalista muito talentoso, mas acho que também se tornará um ótimo crítico”.
E assim ele fez. Ian Fleming, que também serviu na Inteligência Naval, falou bem dos editores do The Sunday Times de Londres, e o Sr. Russell começou a fazer resenhas de livros, peças e apresentações musicais.
Em 1950, o Sr. Russell foi convocado para trabalhar como crítico de arte no The Sunday Times depois que o titular foi sumariamente demitido por criticar uma exposição na Royal Academy.
Foi um momento crucial para a arte britânica, um que o Sr. Russell influenciou de várias maneiras. Incomumente aberto a novos talentos, ele jogou seu peso considerável por trás de artistas emergentes como Francis Bacon, Lucian Freud, Howard Hodgkin, RB Kitaj e Bridget Riley, não apenas nas páginas do The Sunday Times, mas também em prefácios de catálogos de exposições.
“Quando comecei a escrever, meus objetivos como crítico eram simples”, ele disse ao The Art Newspaper em 1999. “Eu queria persuadir as pessoas a irem e verem coisas que eu mesmo gostava.”
O historiador de arte John Richardson disse que o Sr. Russell “fez muito pela arte inglesa na época”, acrescentando: “Ele ajudou a arte inglesa a sair do seu provincianismo pré-1939 e a colocá-la no mapa”.
Um reflexo de seu gosto e influência pode ser visto no livro “Private View”, uma pesquisa abrangente da cena britânica em meados da década de 1960, escrita com Bryan Robertson e apresentando fotografias de Lord Snowdon.
Além de promover a nova arte britânica, o Sr. Russell organizou exposições dedicadas a Modigliani, Rouault e Balthus na Tate e, com Suzi Gablik, uma pesquisa sobre Pop Art na Hayward Gallery, em Londres.
Em 1974, o Sr. Russell foi trazido a Nova York por Hilton Kramer, crítico de arte chefe do The New York Times. O convite não poderia ter sido mais oportuno. O Sr. Russell estava ansioso para se juntar à Sra. Bernier, que ele conheceu pela primeira vez e por quem se apaixonou em meados da década de 1950, quando ela o contratou para escrever para a L’Oeil, a revista de artes sediada em Paris que ela fundou com Georges Bernier, seu marido na época. Por anos, ele adorou de longe. Depois que ela e o marido se separaram, a distância diminuiu e, em 1975, os dois se casaram.
O casamento foi uma produção luxuosa. Realizado na Glass House de Philip Johnson em New Canaan, Connecticut, contou com a presença de pessoas como Aaron Copland, Pierre Matisse e Stephen Spender e com música composta para a ocasião por Leonard Bernstein. Na época, a Sra. Bernier estava bem a caminho de estabelecer uma nova carreira como escritora e palestrante no Metropolitan Museum of Art.
No The Times, as críticas fluentes e geralmente elogiosas do Sr. Russell contrastavam fortemente com o estilo mais combativo do Sr. Kramer.
“Ele nunca foi mesquinho, desdenhoso ou brutal”, disse o Sr. Richardson sobre o Sr. Russell, relembrando uma instância hábil em Londres na qual o Sr. Russell foi chamado para revisar o trabalho de um pintor inglês bem-nascido, mas sem talento. “Ele contornou isso dizendo: ‘Todos nós nos perguntamos como a pintura de Charles Ryder em “Brideshead Revisited” poderia ter parecido, e agora sabemos com absoluta precisão.’”
No seu melhor, o Sr. Russell exibia força e vigor em suas avaliações. A arte que importava para ele importava de uma forma altamente pessoal, e havia algo quase tátil na maneira como ele traçava os contornos de um artista como Bacon ou Freud.
“Bacon torceu, inverteu, abreviou, gelificou e reinventou de modo geral a imagem humana”, escreveu ele em uma passagem característica em “Francis Bacon”, uma monografia publicada pela primeira vez em 1971. “A estrutura da tinta era por vezes brusca e suntuosa, lírica e improvisada, polpuda e marmórea. Desviando, atacando, colidindo consigo mesma, tomando como certas as mais bizarras conjunções de impulso, ela produzia uma imagem múltipla que era bastante nova na pintura.”
Se encurralado, o Sr. Russell poderia sacar sua espada e usá-la para efeito letal. Sua crítica de uma exposição da escultora Beverly Pepper (1922 – 2020) em 1987 continua sendo um modelo de crítica sem limites. “Em seu efeito cumulativo, esta pode muito bem ser, de fato, uma das exposições mais debilitantes, exageradas e profundamente ofensivas da era pós-guerra”, ele escreveu no The Times. “Isso não é porque o trabalho é ‘ruim’, mas porque ele não atinge aquele nível de realização em que as palavras ‘ruim’ e ‘bom’ têm algum significado.”
O ataque cortante, no entanto, ele geralmente deixava para os outros. A arte, para ele, continuava sendo um glorioso caso de amor e uma aventura para toda a vida. “Quando a arte é renovada, nós somos renovados com ela”, ele escreveu no primeiro volume de “The Meanings of Modern Art”. “Temos um senso de solidariedade com nosso próprio tempo, e de energias psíquicas compartilhadas e redobradas, que é quase a coisa mais satisfatória que a vida tem a oferecer.”
John Russell faleceu no sábado em 23 de agosto de 2008, aos 89 anos, em Nova York.
Sua esposa, Rosamond Bernier, disse que ele morreu em um hospício de Nova York.
Em 1945, ele se casou com Alexandrine Apponyi. O casamento terminou em divórcio em 1950. Sua filha, Lavinia Grimshaw de Londres, sobrevive a ele, junto com a Sra. Bernier, dois netos e um bisneto. Um segundo casamento, com Vera Poliakoff, também terminou em divórcio, em 1971.
(Créditos autorais: https://www.nytimes.com/2008/08/25/world/europe – New York Times/ MUNDO/ EUROPA/ Por William Grimes – 25 de agosto de 2008)
(Fonte: http://cultura.estadao.com.br/noticias/artes – CULTURA/ ARTES/ NYT – O ESTADO DE S.PAULO – 26 de agosto de 2008)