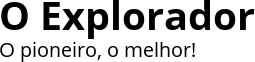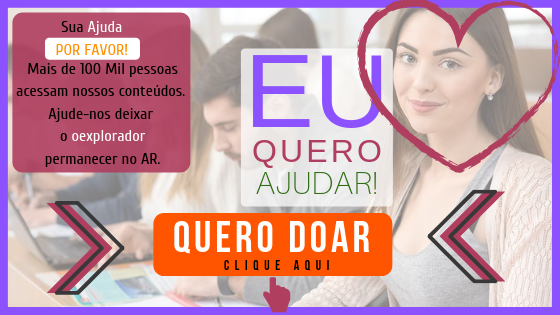O primeiro DJ do Brasil Da disco music ao primeiro afterhours, a noite de São Paulo tem muita história
Nada de remixes mirabolantes, drops incríveis ou BPMs alterados. A “coqueluche” da época era a orquestra de Ray Conniff que ainda tinha os cabelos negros. “In The Mood” do Glenn Miller abria os bailes em grande estilo para os paqueras e enamorados dançarem coladinhos.
Era 1958, quando Seu Osvaldo Pereira, o primeiro DJ do Brasil, começou a tocar profissionalmente no Edifício Martinelli, em São Paulo, o discotecário é o pioneiro no Brasil na arte de chacoalhar uma pista de dança. Sem fone de ouvido, mixer ou qualquer outra ferramenta que deixa a vida do DJ mó mamão, Seu Osvaldo abusava da precisão. “Era tudo no olhômetro”.
As festas começaram a rolar por causa da grana mesmo, afinal nunca foi e nunca será barato contratar uma orquestra. No lugar de 20 músicos, técnicos de som e mais uma pá de profissionais, a galera percebeu que com meia dúzia de pessoas dava pra ter o mesmo resultado. “O pessoal viu que o baile mecânico dava dinheiro. Porque você só precisava de cinco ou seis pessoas para montar um clube. No dia da festa, você se organizava pra chapelaria, portaria. O mesmo grupo fazia tudo”, comenta Seu Osvaldo.
Quando começou a fazer bailes usando toca-discos e LPs em São Paulo, no remoto ano de 1958, o técnico de som Osvaldo Pereira não podia imaginar que seria o precursor de uma cena que, quase 60 anos mais tarde, figuraria entre as mais plurais e agitadas do mundo.
Com seus diversos clubes e festas, é possível achar boas opções pra se divertir a qualquer dia da semana, nos horários mais diversos (esquenta, noitada, chillout, à tarde… vale-tudo). “Acho tudo isso deslumbrante e nunca imaginei que São Paulo e seus DJs iriam brilhar tanto. Fico feliz por ter dado início de alguma forma a essa profissão”, diz seu Osvaldo, do alto de seus 82 anos.
Seu Osvaldo tem razão. Não foi do dia pra noite que a cidade se tornou a potência noturna que é. O movimento vem lá de trás e só se concretizou graças ao suor e dedicação de legiões de DJs e festeiros que faziam de tudo pra estar no lugar certo, na hora certa. Tudo isso para ouvir “aquela” música e poder dançá-la.
Pensa bem: naquela época não tinha MP3, Spotify, Youtube pra ouvir música. Quem quisesse ficar por dentro das novidades tinha que gastar sola de sapato em busca do som. A pioneira DJ Sonia Abreu, que foi residente da primeira discoteca de São Paulo, a Papagaio Disco Club, se lembra de como era essa vibe: “Quando eu subia na cabine do Papagaio, que era linda, toda de acrílico, era incrível ver as pessoas dançando, curtindo as músicas que eu estava selecionando”, diz Sonia. “As pessoas eram bem parecidas com o que rola hoje, não vejo muita diferença, usavam roupas descoladas, queriam se libertar na noite, e a música sempre foi o combustível. É o que leva essa juventude pra frente. Eu me sinto uma bispa da música”, brinca a DJ, que segue em atividade, aos 60 e lá vai pedra, tocando em festas fechadas e como residente da Casa 92, em São Paulo.
Sonia estreou no horário nobre do Papagaio Disco Club em 1977 e dividiu a residência da cabine bafo da discoteca com outros fera, o DJ Robertinho.
A febre das discotecas levou muita gente a conhecer o fervo da noite paulistana pela primeira vez em casas como Banana Power, Hippopotamus e Tamatete, além do Papagaio.
Enquanto no Centro e nos Jardins só se falava em discotecas da moda, onde a classe mais abastada dançava ao som de hits da disco, nos bairros mais afastados os salões de baile ferviam com milhares de dançarinos. No lugar de DJs, o que atraía as pessoas para a festa era o nome da equipe de baile que a promovia. A mais famosa delas, a Chic Show, foi fundada em 1973 e tornou-se uma instituição black em São Paulo, sinônimo de entretenimento musical de qualidade.
A Chic Show começou a funcionar como equipe no salão da Cooperativa do Carvão, na Zona Oeste da cidade, e consagrou-se no lendário São Paulo Chic, na rua Brigadeiro Galvão. Ali, aos domingos, o baile da Chic Show reunia quase 2 mil dançarinos. Uma das inovações que a equipe trazia era o par de pick-ups para os DJs, até então coisa inédita em bailes black.
Em 1975, com o início dos bailes no Palmeiras, que passavam a acomodar até 18 mil pessoas, a Chic Show se firmou como a maior equipe de São Paulo. Pela primeira vez, uma equipe usava lambe-lambe (cartazes de rua) para promover um baile, mídia que até hoje é tradição das festas black.
Também foi na periferia da cidade que nasceram alguns de seus principais clubes, entre eles o mais importante da Zona Leste, Toco, que nasceu de uma equipe de baile. O dono e primeiro DJ, William Crunfli, começou a fazer festas aos 14 anos, em 1970. No final dos anos 70, montou a Toco num velho cinema desativado, um galpão gigantesco, grande o bastante para realizar o sonho de acomodar até 4 mil pessoas de uma vez sob o mesmo teto.
Foi nas cabines da Toco que quatro nomes fortíssimos da discotecagem nacional se revelaram: Ricardo Guedes, Iraí Campos, Vadão e Marky (que começou como DJ Marquinhos, depois foi Marquinhos Marky Mark e Marky Mark até optar por usar apenas um nome).
E foi com a tríade discotecas dos bacanas nos jardins + bailões black como os da Chic Show + a gestação de clubes nas zonas periféricas da cidade (Toco, Contra-Mão, Broadway) que São Paulo se preparou para o que estaria por vir: a febre das danceterias.
No comecinho da década de 80, a disco music tentava adiar sua morte na cidade sobrevivendo em boates veteranas, como Gallery e Aquarius. O gênero ainda funcionava para aquele público que se importava mais com a temperatura de seu espumante do que com o frescor da seleção musical.
Mas quem estava em busca de novidades ligou suas antenas para o advento das danceterias. Nelas, o DJ ganhava espaço para misturar pop rock nacional, new wave, rock e, mais tarde, música eletrônica.
O termo foi trazido ao Brasil pelo empresário Ângelo Leuzzi, que se inspirou no nome de um clube nova-iorquino, o Danceteria. Inaugurado em janeiro de 1983, seu primeiro empreendimento na noite, o Rose Bom Bom, misturava conceitos de casa de shows, bar e clube para dançar.
Foi ali que o DJ Magal tocava seleções de rock inglês e música eletrônica.
Pelos toca-discos do Rose, além de Magal, passaram o próprio Leuzzi, o hoje chef bombator Alex Atala e uma lenda da história do underground paulistano: o DJ Marquinhos MS.
O conceito de danceteria, que permitia uma mistura de new wave, pop e rock, alternando DJ sets e shows ao vivo, logo se alastrou pela cidade e deu origem a casas como Aeroanta, Area, Dancing e Radar Tantã, entre outras.
Se nas danceterias o que dominava era o tom amarelo-bob-esponja das calças de marcas como O.P. e Company, no Centro da cidade uma casa propunha uma volta para o dark side.
Marquinhos MS e Magal, dupla de frente do Rose Bom Bom, exercitavam seu lado mais gótico tocando para a pista mais dark que São Paulo já teve, a do Madame Satã. O lugar ficava na rua Conselheiro Ramalho, no Bixiga, bem longe do glamuroso endereço do Rose, na Oscar Freire. Lá o som era o mais underground que se podia encontrar em São Paulo. Mas isso não impedia que os DJs tomassem “copadas” caso a música não agradasse. Como precaução, a cabine do Satã era totalmente fechada.
Marquinhos era responsável por uma seleção mais melódica, tocava Smiths, Everything But The Girl, New Order. Magal tocava a parte mais agressiva, com especial interesse por rock industrial.
Em 1986, outro DJ que entrou para a história no Brasil estreava no Satã. Maurício Bischain, o DJ Maurício na época, ainda nem tinha o apelido que o fez famoso na cena brasileira; Mau Mau.
Depois que o Rose fechou, em 1990, Marquinhos foi trabalhar em outra casa de Ângelo Leuzzi, o Columbia. Depois, o DJ também passou pela casa noturna de elite Allure. Em 1994, aos 30 anos, Marquinhos MS morreu, com a saúde debilitada pelo vírus da Aids, e entrou para a história como um dos DJs que mais fizeram pelo underground da cidade.
Em 1988, em pleno verão do amor na Europa, já não parecia mais tão bacana dançar música gótica e rock industrial em templos do dark, como o Madame Satã, no Bexiga, e o Ácido Plástico, em Santana.
No subsolo de uma galeria de lojas numa das ruas mais movimentadas de São Paulo, um DJ começava a gravar seu nome na história da música eletrônica underground do país. Tocando no clube Nation, na Augusta, Renato Lopes mostrava novidades até então inatingíveis para a nação dançante do país.
Lopes cumpria uma missão de catequizador, enquanto seu parceiro de cabine, Mauro Borges, recém-chegado da Europa, tocava uma seleção mais pop. Para ajudar, Borges trabalhava na Bossa Nova, “a” loja para quem procurava discos e informação sobre música underground na época.
Fã incondicional de Madonna, a pista de Borges sacudia ao som da rainha e de outros ícones do pop dançante, como Prince, Depeche Mode e New Order, permeados por um ou outro hit da disco dos anos 70, como Frenéticas. Quente também era a performance do DJ: alto e forte, Borges atraía olhares para a cabine naturalmente. Não contente com isso, ele tocava invariavelmente sem camisa e fazia coreografias incríveis com as mãos, à la Vogue.
Informalmente, ficou estabelecido assim: a pista de Renato Lopes era a aula, enquanto a de Mauro Borges era o recreio.
A notícia da nova dupla de DJs correu a cidade e, em poucos meses, o Nation tinha virado um hit. Nascia no Nation o esboço do culto ao DJ. Na seqüência brotariam ali os primeiros traços de culto ao clube, com a impressão de flyers com desenhos e piadas cifradas. Aliás, foi no Nation que a palavra clube começou a ser usada, em substituição ao termo danceteria.
Por ali circularam os primeiros freqüentadores vestindo roupas diferentonas e adereços inusitados, como mochilas de pelúcia – essa clientela, mais tarde, ganharia o nome de clubber. No Nation também nasceram termos que depois se espalharam pelo underground eletrônico e pelo mundo gay. Palavras como hype, flop, mundinho…
NASCIMENTO DO UNDER
Em São Paulo, o início da década de 90 foi marcado pelo surgimento de clubes sem muita infra mas com direção musical muito bem definida.
O Senhora Krawitz, em Santa Cecília, para muitos o berço do underground eletrônico de São Paulo, teve um staff de peso. Com o promoter Nenê à frente, o Krawitz tinha a hoje DJ Glaucia ++ como barwoman e a dupla Renato Lopes e Mau Mau nos toca-discos, além de ter sido o palco da estreia da primeira drag queen nas pick-ups. Era Edu Corelli, que se apresentava como Selma Self-Service.
Assim como o Krawitz, o Nepal Dance Club, nos Jardins, abria o front do eletrônico underground, marcando a estreia de dois DJs de house fundamentais para a cena: Gil Barbara e Luiz Pareto.
No Nepal tinha, além dos DJs de música eletrônica, apresentações do projeto Dancearte, que misturava intervenções de artes plásticas, moda e teatro. Na estréia do projeto, um grupo de jovens artistas plásticos, alunos de Dora Longo Bahia, expuseram seus trabalhos. O DJ de techno Renato Cohen era um desses artistas.
Em 1991, nascia outro clube que marcaria a noite eletrônica da cidade: o DJ Mauro Borges e Bebete Indarte montaram, na alameda Itu, o Massivo, talvez o primeiro clube gay centrado na figura de um DJ a conquistar fama nacional.
Com Borges nas pick-ups, o Massivo virou hit na cidade, com longas filas na porta quase todas as noites. Todo mundo queria ver o que rolava lá dentro: ali nasceu a “almôndega”, dancinha que envolvia um grupo de pessoas grudadas umas nas outras. O ritual acontecia invariavelmente nas “gaiolas”, pequenas jaulas suspensas no segundo andar do clube.
A segunda libertação veio com a música. Em pleno momento de ascensão da música eletrônica na cidade, Borges resolveu investir numa mistura de house americano, o garage, aliado a um revival da disco music. Apostou também no resgate de ícones da década de 70, como a cantora Gretchen. Acertou em cheio na trilha sonora para compor a aura exótica que aquele novo lugar pedia.
O Massivo se transformou em templo do hedonismo em São Paulo. Junto com a notícia do clube, espalharam-se seu pajubá (luxo, glamour, clubber, montação…), sua moda e suas personagens mais reluzentes, as drag queens.
Com Luiz Pareto tocando às sextas e Renato Lopes aos sábados, o clube Latino se tornou rapidamente o ponto de referência de house garage em São Paulo. Não durou muito, mas foi intenso enquanto existiu. O clube fechou as portas em 95, depois de diversas investidas da polícia.
E não dá pra falar as palavras “underground” e “São Paulo” sem pensar no clube A Loca. A boate que segue firme na rua Frei Caneca até hoje foi fundada em 1995 por Julio Baldermann, no mesmo lugar que seis meses antes abrigara o clube Samantha Santa.
Desde a morte de Julio, em 2009, quem comanda o clube é o argentino Anibal Aguirre. Nascido em Rosario de la Frontera, ele chegou a São Paulo em meados dos anos 1990 sem saber nada de boate e virou um ícone de fervo gay/underground na capital paulista.
OVERNIGHT E SOUND FACTORY – FERVO NA ZL
Outra casa noturna seminal para a Zona Leste foi a Overnight, na Mooca. Menor que a Toco e a Contra-Mão, foi das primeiras longe dos Jardins a investir no underground. De 1988 a 93, o DJ Badinha fazia sets de house nova-iorquino e new beat, um gênero que acabava de chegar da Europa.
A incrível pista da Overnight, na Mooca
Isso sem falar na mais mítica das casa da ZL, a Sound Factory. Quando Osvaldo de Oliveira Jr. resolveu reformar o clube que tinha na Penha, o Showbusiness, para abrir outro no lugar, começou a desenhar a história da nova casa pela escolha dos DJs. Decidiu manter o DJ que já trabalhava na Showbusiness e convidar um estreante para formar dupla com ele. O veterano era Marky e o novato, Julião.
Depois da reforma, a casa reabriu com o nome de Sound Factory, no final de 1991. Na época, Juliãovendia camisetas com estampas de grupos de EBM para lojas de discos do Centro – entre elas a Discomania, que também pertencia a Osvaldo.
O curioso é que, quando a Sound Factory começou a funcionar, Julião tocava discos de jungle, enquanto Marky apostava em tecno e house tribal. Pouco depois, inverteram-se os papéis. Alguns códigos que já rolavam nos clubes dos Jardins, também rolavam na Sound Factory. Exemplo? Julião e Marky chegaram a tocar montados (vestidos de mulher) numa festa, a Juju Telefunken por Elas, uma zoeira com o programa de Hebe Camargo na TV. Dos flyers às drags, a cultura underground de clubes como o Senhora Krawitz tinha endereço certo na Penha.
O clube chegou a ter um programa na rádio Metropolitana, que era apresentado por Julião. Depois da saída de Marky para a Toco, no final de 1992, outro DJ marcou a história da Sound Factory: o Yes America. Mais tarde, teve uma filial em Pinheiros, que teve o mesmo sucesso da matriz.
Em 1992, o clube Columbia, investida de Ângelo Leuzzi após o fechamento do Rose Bom Bom, passou a investir na vinda de DJs internacionais ao Brasil. Naquele ano, veio Paul Oakenfold, em seu auge. Em 1993 vieram mais três gringos de peso: Paul Daley, Sasha e Dave Seaman. Era um prenúncio do que estava por se firmar no final dos anos 90 começo dos anos 2000: uma noite paulistana lotada de DJs gringos.
O porãozinho do Columbia, que abrigou o primeiro afterhours semanal do país, estreou com o nome de Velvet Underground. O projeto, sem programação muito definida, nunca chegou a dar dinheiro, nem muito público.
Leuzzi chamou então o promoter Pil Marques para repaginar o Velvet. Nascia o Hell’s Club, o inferninho do techno que mudaria a vida de muita gente.
Em 1994, ano em que o Hell’s foi inaugurado, São Paulo estava ardendo por novidades. Vários clubinhos movimentavam a vida das pessoas, que ainda estavam deslumbradas com a chegada da cultura clubber com toda a sua iconoclastia. Some-se a isso a legitimação desse novo universo, que ganhava espaço no maior jornal do país, a Folha de S.Paulo, dentro da coluna Noite Ilustrada, de Erika Palomino.
Quando o Hell’s surgiu, com seu horário diferentão de funcionamento – das 4h30 às 11h – foi como se dissessem para essa gente: “A noite agora não acaba mais quando a noite acaba”.
(Fonte: http://www.musicnonstop.com.br – Por Claudia Assef – 11 de maio de 2016)
Arte: Nina Giglio
(Fonte: https://thump.vice.com – Peu Araújo – 30 de outubro de 2014)