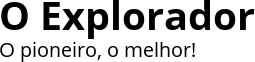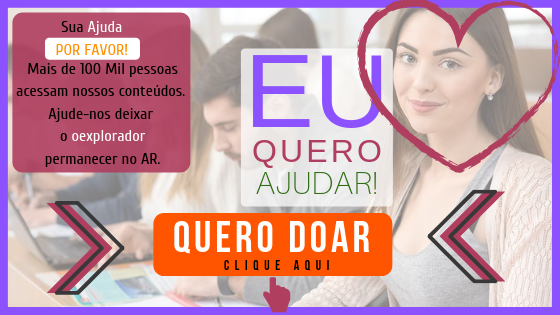David L. Rosenhan (Jersey City, Nova Jersey, 22 de novembro de 1929 – Palo Alto, Califórnia, 6 de fevereiro de 2012), distinto psicólogo e professor emérito da Universidade de Stanford
Nascido em Jersey City, New Jersey, em 22 de novembro de 1929, ele se formou em matemática (1951) no Yeshiva College e fez mestrado em economia (1953) e doutorado em psicologia (1958) na Columbia University.
Um professor de direito e de psicologia na Universidade de Stanford de 1971 até sua aposentadoria em 1998, Rosenhan foi um pioneiro na aplicação de métodos psicológicos para a prática do direito, incluindo o exame de peritos, seleção de jurados e deliberação do júri.
Ex-presidente da American Psychology-Law Society e do American Board of Forensic Psychology, Rosenhan era membro da Associação Americana para o Avanço da Ciência, da Associação Americana de Psicologia e da Sociedade Americana de Psicologia.
Antes de ingressar no corpo docente da Faculdade de Direito de Stanford, ele foi membro das faculdades de Swarthmore College, Universidade de Princeton, Haverford College e da Universidade da Pensilvânia. Ele também atuou como psicólogo de pesquisa no Educational Testing Service. Como as gerações de estudantes de Stanford podem atestar, David Rosenhan foi um palestrante fascinante que conseguiu transmitir a sensação de que estava falando com cada indivíduo, não importando o tamanho do grupo.
Para seus alunos de pós-graduação, ele era consistentemente encorajador e otimista, sempre pronto para compartilhar uma piada ou história, e gentilmente encorajador de sua criatividade e independência progressiva como pesquisadores. As lições que ele mais se importava em oferecer, tanto na sala de aula quanto em sua pesquisa, eram sobre a dignidade humana e a necessidade de confrontar o abuso de poder e as fragilidades humanas.
Rosenhan faleceu em 6 de fevereiro de 2012, aos 82 anos de idade, após uma longa doença.
(Fonte: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed / Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia, Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA / Por Ross L, Kavanagh D. – Setembro de 2013)
© 2013 APA, todos os direitos reservados.
Louco, eu?
A visão da medicina e da sociedade sobre pacientes mentais evoluiu muito nos últimos anos. Mas uma pergunta continua sem resposta: qual é a linha que separa a lucidez da loucura?
David Rosenhan resolveu fingir-se de louco. Em 1972, ele se dirigiu a um hospital psiquiátrico americano alegando escutar vozes que lhe diziam as palavras “oco” “vazio” e o som “tum-tum”. Essa foi a única mentira que contou. De resto, comportou-se de maneira calma e respondeu a perguntas sobre sua vida e seus relacionamentos sem mentir uma única vez sequer. Outros oito voluntários sãos fizeram a mesma coisa, em instituições diferentes. Todos, exceto um, foram diagnosticados com esquizofrenia e internados.
Assim que foram admitidos, os pacientes passaram a agir normalmente. Observavam a tudo e faziam anotações em suas cadernetas. No começo, as anotações eram feitas longe do olhar dos funcionários, mas logo eles perceberam que não havia necessidade de discrição. Médicos e enfermeiros passavam pouquíssimo tempo com os pacientes e nem ao menos respondiam às perguntas mais simples. “Apesar de seu show público de sanidade, nenhum deles foi reconhecido”, escreveu Rosenhan no artigo On Being Sane in Insane Places (“Sobre Ser São em Locais Insanos”), publicado na conceituada revista Science, em janeiro de 1973. Ironicamente, os pacientes reais duvidavam com freqüência da condição dos novos colegas. “Você não é louco. Você é um jornalista ou um professor checando o hospital”, disseram diversas vezes.
Os pacientes estavam certos. Rosenhan era mesmo um acadêmico e sua internação, assim como a dos outros voluntários, era parte de um estudo pioneiro para avaliar a capacidade médica de diagnosticar distúrbios mentais. Posteriormente ele se tornou professor emérito das Faculdades de Psicologia e Direito da Universidade de Stanford.
Os falsos pacientes foram mantidos nos hospitais por períodos que variaram de 7 a 52 dias. Foram medicados (assim como boa parte dos internados reais, eles escondiam as pílulas sob a língua e as jogavam fora quando já não estavam mais na presença dos funcionários) e liberados com o diagnóstico de “esquizofrenia em remissão”, uma expressão médica usada para dizer que o paciente está livre dos sintomas.
Já de volta à sua identidade real, os pesquisadores requisitaram os arquivos sobre suas estadas nos hospitais. Em nenhum dos documentos havia qualquer menção à desconfiança de que estivessem mentindo ou que aparentassem não ser esquizofrênicos. A conclusão que David Rosenhan escreveu para o estudo desconcertou a psiquiatria americana. “Agora sabemos que somos incapazes de distinguir a insanidade da sanidade.”
LOUCURA EXISTE!
A conclusão de Rosenhan não era de todo uma novidade para a comunidade médica. Desde a Segunda Guerra Mundial, quando a porcentagem de homens liberados pelo exército por razões psicológicas variava de 20% a 60% entre estados, os americanos começaram a desconfiar de que seus diagnósticos tinham a precisão científica de uma cartomante. Para piorar, pesquisas começaram a mostrar que os Estados Unidos estavam diagnosticando um número muito maior de esquizofrênicos do que a Inglaterra. Seria o chá das cinco um remédio tão eficiente contra distúrbios mentais?
O estudo de Rosenhan deixava claro que o problema não eram as mentes dos ingleses e sim a maneira pouco eficiente de se fazer diagnósticos nos Estados Unidos. O instrumento usado por médicos e psiquiatras nessa tarefa era (e continua sendo) o Manual de Diagnóstico e Estatística dos Distúrbios Mentais (DSM, na sigla em inglês). O manual é reconhecido pela Associação Americana de Psiquiatria como a lista oficial de doenças mentais e é usado em hospitais e consultórios psiquiátricos do mundo inteiro.
Mas em 1973, o DSM ainda estava em sua segunda versão e os diagnósticos dados usando o livro de cem páginas variavam de forma absurda. Um mesmo paciente poderia ser descrito como histérico ou hipocondríaco, dependendo apenas de quem o avaliasse. E essa era uma das questões centrais do estudo de Rosenhan. “Será que as características que levam alguém a ser tachado de louco estão mesmo no paciente ou estão no ambiente e contexto em que o observador está inserido?”, escreveu ele em On Being Sane….
Essa pergunta faz ainda mais sentido quando comparamos os diferentes conceitos de loucura ao longo da história. Homens cujo estado de espírito difere drasticamente da média dos demais existem desde as épocas mais remotas – assim como tratamentos para curá-los. No entanto, por séculos, acreditava-se que a loucura era causada pela vontade dos deuses sendo, portanto, parte do destino de alguns. Fosse para punir ou até mesmo para recompensar – o Alcorão conta como Maomé achava veneráveis os loucos, já que tinham sido abençoados com loucura por Alá, que lhes tirava o juízo para que não pecassem – fato é que a loucura estava associada com a idéia de destino e participava da vida social assim como outras formas de percepção da realidade. “A definição de loucura em termos de ‘doença’ é uma operação recente na história da civilização ocidental”, escreveu João Frayze-Pereira, no livro O que é a loucura.
E mesmo vista como doença mental, a relação que se desenvolve com ela pode variar muito de cultura para cultura. Na Malásia, é comum mulheres mais velhas apresentarem um quadro psíquico conhecido como latah. É uma condição que faz com que a pessoa fique completamente alterada por um bom tempo, gritando e falando palavrões. Mas, no lugar de serem excluídas socialmente, essas pessoas são celebradas e costumam animar reuniões sociais com seu pequeno show de excentricidades.
Os próprios exemplos do que configura um estado alterado de consciência mudam radicalmente de acordo com o lugar, o tempo ou a cultura. Só para citar um exemplo, em 1958, um jovem negro americano foi levado a um hospital psiquiátrico depois de se inscrever para a Universidade do Mississippi. Qualquer negro que pensasse que pudesse estudar ali estava, obviamente, louco.
Ora, se a loucura – suas razões, interpretações e definições – pode mudar tão drasticamente diante de conceitos como geografia e tempo, como é possível afirmar que a loucura seja um distúrbio da mente e não apenas um desvio social? Será que Thomas Szars, um dos líderes do movimento antipsiquiatria no mundo, está certo quando diz que a psiquiatria não passa de uma polícia moral disposta a impedir pensamentos e condutas que não são agradáveis à sociedade?
A CIÊNCIA FALA
Hoje, a ciência faz uma distinção clara entre loucura e doenças mentais. “Talvez pareça desconcertante, mas os psiquiatras não se utilizam de termos como louco ou loucura e nenhuma das atuais classificações dos distúrbios psiquiátricos os inclui”, diz Sérgio Bettarello, do Instituto de Psiquiatria da USP. Os absurdos classificatórios de alguns anos atrás, como chamar uma mulher que se apaixona por um homem mais novo de louca, minguaram. “A loucura como estado de ampliação da existência é positiva. Você costuma sair enriquecido depois de uma experiência dessas. Já as doenças mentais são o oposto disso. No lugar de liberdade, elas te dão uma restrição da autonomia”, diz Bettarello.
A loucura que a psiquiatria trata é chamada de psicose, uma distorção do pensamento e do senso de realidade, que pode prejudicar drasticamente a vida do paciente. De fato, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cinco entre as dez maiores causas de incapacidade no mundo são problemas mentais. O ranking é feito levando em conta dois quesitos: número de anos de vida e número de anos produtivos que a doença rouba do paciente. E, no caso das doenças mentais, há pouca concorrência em relação ao segundo quesito. “Seja pelo estigma que carrega, seja pelos transtornos que traz à rotina da pessoa, distúrbios mentais podem levar a péssima qualidade de vida”, diz o psiquiatra Roberto Tynakori. Qualquer pessoa com depressão crônica ou com um parente próximo que sofra de esquizofrenia sabe bem disso.
Quando surgiu, no século 18, a psiquiatria era vista como uma prática menor, sem a objetividade necessária às coisas tratadas pela ciência. Se a própria definição de seu objeto de estudo era nebulosa, como seria possível propor diagnósticos e tratamentos confiáveis? A busca desesperada por explicações lógicas e maneiras científicas de tratar os males da mente produziu algumas das práticas mais macabras na história da ciência (veja quadros abaixo) e não teve muito sucesso até a metade do século 20. Somente quando o neurocientista português Egas Moniz ganhou o Prêmio Nobel de Medicina pela invenção da lobotomia – uma cirurgia de danificação dos lobos frontais que é vista hoje como um dos exemplos mais bem-acabados da crueldade enfrentada em hospitais psiquiátricos – é que a psiquiatria viu-se, finalmente, aceita entre os homens da ciência. “Pode-se dizer que uma nova psiquiatria nasceu em 1935 quando Moniz deu o primeiro passo corajoso em direção ao campo da psicocirurgia”, escreveram os editores do New England Journal of Medicine em 1949. A psiquiatria havia, finalmente conquistado a credencial necessária para vestir o jaleco da medicina.
A segunda revolução nos tratamentos veio algum tempo depois, com a criação dos remédios antipsicóticos. Agora era possível tratar pacientes mentais dispensando a internação – uma condição fundamental para a revolução que teria início na década de 1960: o fim dos manicômios. A invenção facilitou a vida de muitos pacientes, piorou a de outros (os efeitos colaterais costumam ser graves) e trouxe muito dinheiro para a indústria farmacêutica (só para citar um exemplo, o antipsicótico olanzapine é o terceiro remédio mais vendido do mundo).
Mas o avanço nos tratamentos não resolvia a questão mais fundamental no processo: a precisão do diagnóstico. Há casos muito claros de perturbação mental, mas há outros em que é quase impossível determinar a linha que separa a simples imaginação humana da falta de lucidez restritiva típica das manias ou psicoses. David Rosenhan é uma prova disso.
Quando seu artigo foi publicado, Rosenhan recebeu críticas duras de diversos psiquiatras. Muitos o acusaram de não ser suficientemente científico, afinal era impossível provar como os pacientes realmente haviam se comportado (Rosenhan nunca divulgou o nome das instituições em que foram internados já que, dizia, não era sua intenção atacar pessoalmente esse ou aquele hospital). Um dos grandes críticos do trabalho dele foi Robert Spitzer, que na época trabalhava no Centro de Pesquisa e Treinamento Psicanalíticos da Universidade Columbia, nos Estados Unidos. Spitzer acredita que o fato de terem sido liberados com o diagnóstico de esquizofrenia em remissão é uma prova de que os funcionários do hospital conseguiram sim distinguir a sanidade da insanidade. Ainda assim, Spitzer resolveu revisar o Manual de Diagnóstico vigente e logo percebeu que havia pouquíssimas provas científicas embasando os diagnósticos. Ele montou grupos de pesquisadores e foi atrás de pesquisas e evidências. Em 1974, lançou a terceira edição do DSM, um calhamaço de 480 páginas e quase 300 diagnósticos catalogados.
OS LOUCOS FALAM
Durante sua temporada no hospital psiquiátrico, David Rosenhan percebeu que “uma vez marcado como esquizofrênico, não há nada que o paciente possa fazer para superar essa etiqueta. A etiqueta muda completamente a percepção que os outros têm dele e de seu comportamento”. Características normais, relatadas pelos pseudopacientes, foram interpretadas pelos enfermeiros como sinais da doença. A aproximação de um dos pais durante a adolescência, por exemplo, transformou-se em “ausência de estabilidade emocional” no relatório médico. E a irritação dos pacientes com a falta de atenção dos funcionários era vista como mais um sintoma da doença e não como reação aos maus tratos.
Ao lutar por seu lugar entre as práticas da ciência, a psiquiatria moderna havia instituído uma relação com os doentes que ficou famosa na definição do filósofo francês Michel Foucault: o monólogo da razão sobre a loucura. A ideia de que pacientes mentais eram desprovidos de razão e, portanto, não tinham direito a opinar sobre sua vida e tratamento legitimou vários abusos da medicina. Esterilização forçada e proibição de casar são só dois exemplos do que era visto como verdade incontestável quando o assunto era a vida dos doentes mentais. Um dos jornais mais respeitados do mundo, The New York Times, escreveu em seu editorial, em 1923, que “é uma certeza que o casamento entre dois doentes mentais tem de ser proibido”.
A obra de Foucault transformou-se em inspiração para os movimentos que começavam a tomar corpo na década de 1960: a luta antimanicomial e a antipsiquiatria. Em todo o mundo, ex-pacientes de hospitais psiquiátricos começaram a se organizar contra os abusos da razão sobre a loucura. O objetivo era um só: dar “ao indivíduo a tarefa e o direito de realizar sua loucura”, como escreveu Foucault.
Mas até que ponto vai a liberdade do indivíduo de realizar sua loucura? Para a maior parte dos governos, o limite é o risco de morte. Foi exatamente por isso que Rosenhan e seus companheiros foram internados. Naquela época, acreditava-se que ouvir uma voz dizendo palavras como “oco” e “vazio” era um sinal de que, inconscientemente, aquela pessoa acreditava que sua vida era oca, que não valia a pena. Dali para o suicídio, seria um pulo, acreditavam os médicos. Mas nem todo mundo concorda que o tratamento deve ser obrigatório quando há risco de morte. “Qualquer tratamento forçado é ilegal”, diz David Oaks, ex-paciente de hospitais psiquiátricos e fundador da organização Mind Freedom, uma organização que tem como um de seus lemas “psiquiatria cura discórdia, não doença”.
O fato de o tratamento ser imperativo quando existe risco de morte impede que, para algumas doenças, estudos sejam feitos usando dois grupos de pacientes: um medicado e outro não medicado. Sem provas de que o medicamento funciona melhor do que nenhum tratamento, a psiquiatria vira alvo de diversas críticas, principalmente no que diz respeito aos efeitos colaterais de seus medicamentos. “O que se espera da psiquiatria é que ela seja 100% eficaz e que não tenha nenhum efeito colateral. Obviamente, ela não atinge esse objetivo”, diz Bettarello. Mas nem todo mundo diz esperar 100% de eficácia. “No topo da minha lista de desejos está um simples pedido de honestidade”, escreveu o jornalista médico Robert Whitaker no livro Mad in America (“Louco na América”, sem edição em português). O livro faz um balanço das pesquisas sobre tratamentos psiquiátricos nos últimos anos e mostra como não existem evidências concretas para a maior parte das declarações de eficácia feitas pela indústria farmacêutica e, conseqüentemente, dentro dos consultórios psiquiátricos.
Honestidade também é o que pedem os participantes do Mad Pride (Orgulho Louco), um movimento de combate ao preconceito contra pacientes psiquiátricos e de celebração da cultura Louca (com L maiúsculo mesmo). Uma das ações do movimento é a passeata anual de loucos, inspirada nas paradas gays que já existem em diversas cidades do mundo. A idéia é desestigmatizar os doentes mentais e mostrar que existe sim vida normal entre eles.
No Brasil, o movimento da luta antimanicomial cresceu nos anos 80 e, inspirado em projetos bem-sucedidos dos Estados Unidos e Europa, idealizou centros de apoio a pacientes mentais organizados e administrados pelos próprios usuários, em conjunto com médicos e seus familiares. “A inserção não é algo que você concede a alguém. Ela precisa ser conquistada. O doente faz parte da sociedade e a relação que ele tem com sua doença é a mesma que a sociedade propõe”, diz o psiquiatra Tykanori, um dos expoentes do movimento no Brasil. A luta antimanicomial transformou o atendimento público de saúde mental com a criação dos Caps, Centros de Apoio Psicossocial, e abriu caminho para a aprovação, em 2001, da lei que prevê a extinção progressiva dos manicômios no Brasil. E incluiu efetivamente os pacientes em sua batalha. “Nós entendemos que podemos colaborar na construção teórica de um saber e nas práticas de reabilitação psicossocial”, escreveu a usuária Graça Fernandes no artigo “O avesso da vida. Como pode a assistência se transformar?”. Os pacientes, finalmente, rompiam o monólogo da razão e estabeleciam um diálogo sobre sua própria condição. “A sociedade percebeu que a participação dos doentes mentais enriquece-nos muito mais que o seu isolamento”, diz Tykanori.
O QUE É NORMAL?
Com os avanços da ciência, a baixa popularidade dos manicômios e a força dos movimentos organizados contra abusos psiquiátricos, é de se pensar que, se o experimento de Rosenhan fosse realizado nos dias de hoje, ele teria um resultado bem diferente do que o internamento imediato dos anos 70. Certo? Era isso que a psicóloga americana Lauren Slater queria descobrir quando decidiu procurar, em janeiro de 2004, oito prontos-socorros de saúde mental e afirmar que vinha ouvindo o som “tum-tum”. Ela conta que, exatamente como Rosenhan e seus colegas, a voz foi o único sintoma falso que apresentou.
Slater não foi tachada de esquizofrênica nem internada. No entanto, nos oito hospitais em que esteve, foi diagnosticada com depressão e recebeu pílulas de risperidone, um antipsicótico bem popular que, na época, era tido como um remédio leve (seis meses depois da experiência, o fabricante divulgou uma nota confessando ter minimizado os riscos do uso do medicamento nos materiais promocionais enviados a médicos). “Eu acredito que a ânsia de prescrever remédios dirige hoje o diagnóstico da mesma forma que a necessidade de enquadrar o paciente como doente fazia nos anos 70”, escreveu Lauren no artigo Into the cuckoo·s nest (“Dentro do ninho do louco” uma referência a One Flew Over the Cuckoos’s Nest, o título em inglês do filme “Um Estranho no Ninho”), publicado no jornal britânico The Guardian e, mais tarde, no livro Mente e Cérebro, que acaba de ser lançado no Brasil.
O médico Spitzer soube, pela própria Slater, do resultado do experimento. “Acho que médicos simplesmente não gostam de dizer eu não sei”, disse a ela pelo telefone, depois de um longo silêncio. A recusa em confessar ignorância não é uma particularidade da psiquiatria. “O problema é que o objeto dessa ciência somos nós mesmos e nossa normalidade. Ou seja, nossa natureza básica”, escreveu Lawrence Osbourne, no livro American normal: the hidden world of Asperger syndrome (“Normalidade americana: o mundo secreto da síndrome de Asperger”, não lançado no Brasil), que reúne informações sobre Asperger, uma doença cada vez mais comum nos Estados Unidos.
A síndrome de Asperger foi incluída no DSM-IV – a edição mais recente do manual, de 1994, com 884 páginas e 365 diagnósticos. Como o manual descreve os distúrbios a partir de seus sintomas, lista uma variedade imensa de emoções humanas, condutas e regras de relacionamento como desvios patológicos. Sentir-se angustiado depois do fim de um relacionamento, comer muito, comer pouco ou comportar-se mal na sala de aula são alguns exemplos de ações que aparecem na lista. É quase impossível não se reconhecer ali e se perguntar: mas, afinal, o que é normal?
Das duas uma: ou estamos mesmo ficando menos equilibrados – o que poderia ser explicado pelo ritmo e modos de vida do mundo moderno – ou nos viciamos em diagnósticos psiquiátricos. “Estamos transformando todo comportamento humano em patologia. Fazendo isso, criamos um sistema verdadeiramente louco, em que todos estão doentes”, diz o psiquiatra Mel Levine, diretor do Centro Clínico de Estudos sobre Desenvolvimento e Aprendizado, da Univerdade da Carolina do Norte. Nos Estados Unidos, o uso de medicamentos psiquiátricos está atingindo níveis altíssimos. Crianças de 2 anos recebem prescrição de remédios cujos efeitos a longo prazo são completamente desconhecidos. “É muito mais fácil encaixar a criança difícil em uma categoria e medicá-la, do que deixar que ela desenvolva naturalmente suas habilidades sociais”, diz Levine.
E, como quase tudo na vida, o mais fácil nem sempre é o melhor. “Mais do que tudo, o aumento de diagnósticos psiquiátricos representa um aumento gradual do preconceito em nossa cultura”, diz o psicólogo Richard DeGrandpre. Talvez seja a hora de começarmos a lidar melhor com as nossas próprias neuroses, manias e loucuras. E, sobretudo, aceitarmos nossas diferenças.
Médicos e loucos
Tratamentos usados para curar a loucura revelam algumas das convicções médicas ao longo da história
Furos no crânio (século 5 a.C.)
O que é: Fazer buracos no couro cabeludo do paciente
Justificativa: Os buracos permitem que os demônios, que provocam a loucura ao ocupar o corpo do paciente, possam abandoná-lo
Disciplina total (século 17)
O que é: Thomas Willis, um dos primeiros médicos a escrever sobre loucura, dizia que “disciplina, ameaças, algemas e bofetadas são tão necessárias quanto tratamento médico”
Justificativa: É a razão que separa os homens dos animais. Loucos são, portanto, como bichos e, para se recuperarem, precisam aprender a ter medo e respeito
Dor (início do século 18)
O que é: São empregadas diversas técnicas com o objetivo de machucar o paciente. A mais comum consiste em provocar bolhas no crânio e genitálias, usando soda cáustica
Justificativa: As dores obrigam a mente do louco a focar-se nessa sensação, deixando de lado pensamentos raivosos
Indução de vômito (1715)
O que é: Durante vários dias, diferentes tipos de purgantes são ministrados ao paciente
Justificativa: “Enquanto a náusea durar, alucinações constantes serão suspensas e, algumas vezes, removidas. Até o mais furioso vai se tornar tranqüilo e obediente”, dizia o médico George Man Burrows
Sangramento (1790)
O que é: Retirada de até quatro quintos do sangue do corpo
Justificativa: Danos cerebrais, masturbação ou muita imaginação podem levar à circulação irregular nas veias que irrigam o cérebro, que é a causa da loucura. A retirada do sangue poderia normalizar o fluxo
Afogamento (1828)
O que é: O paciente é colocado dentro de um caixão com furos e imerso na água. Deve ficar submerso até que “bolhas de ar parem de subir”. Depois é retirado e reavivado
Justificativa: O método leva à suspensão das funções vitais e possibilita que o paciente volte à vida com maneiras mais ajustadas de pensar
Cirurgias ginecológicas (1890)
O que é: Amputação do clitóris e retirada do útero
Justificativa: A vagina e o clitóris têm grande influência na mente feminina. A loucura pode ser resultado da agitação provocada por esses órgãos
Hidroterapia (1896)
O que é: O paciente é enrolado em uma rede e mantido dentro de uma banheira encoberta por uma lona (com um buraco para a cabeça) por horas ou até dias. Água gelada e água fervente são usadas alternadamente para encher a banheira
Justificativa: O banho prolongado induz à fadiga psicológica e estimula a produção de secreções da pele e dos rins, que podem reestruturar as funções do cérebro
Terapias endócrinas (1899)
O que é: Injeção de extratos dos ovários, testículos, glândulas pituitárias e tireoides de diversos animais
Justificativa: Os extratos modificam a nutrição das células do corpo e, portanto, levam à cura permanente
Esterilização (1913)
O que é: Esterilização forçada nos homens
Justificativa: A operação viabiliza a conservação do esperma, o elixir da vida, ajudando na melhoria do quadro
Extração de dentes (1916)
O que é: Remoção de dentes que apresentam problemas. A terapia não é aconselhada para pacientes num estágio avançado da doença
Justificativa: Bactérias são a causa de várias doenças crônicas e costumam ficar escondidas perto dos dentes. Elas podem seguir até o sistema circulatório e chegar ao cérebro, causando doenças mentais
Hibernação (1920)
O que é: O paciente permanece entre “cobertores” congelados por até três dias, para que a temperatura do corpo caia 12oC ou menos
Justificativa: O choque térmico pode fazer com que o paciente recobre parte das funções mentais
Coma provocado (1933)
O que é: O paciente recebe uma dose de insulina suficiente para levá-lo ao estado de coma. Depois de um tempo (de 10 a 120 minutos), é reavivado com uma solução de glucose
Justificativa: A hipoglicemia pode matar ou silenciar as células doentes e sem possibilidade de restauração. Os pacientes voltam do coma agindo como bebês de 5 anos o que é, sem dúvida, uma prova de sua recuperação
Convulsão (1934)
O que é: O paciente recebe uma injeção de metrazol e entra em forte convulsão, correndo o risco de quebrar ossos e dentes e ter hemorragias
Justificativa: A convulsão pode restaurar as funções mentais. Ou isso, ou o temor do paciente diante da terapia causa um choque cerebral tão forte que provoca a cura. De todo modo, a terapia é válida
Eletrochoque (1937)
O que é: Uso da eletricidade diretamente na cabeça para provocar o ataque de epilepsia
Justificativa: A convulsão produz danos cerebrais, eficientes na recuperação do paciente. A perda de memória, outra conseqüência do choque, é benéfica já que torna impossível a lembrança de eventos que lhe causem preocupação ou angústia.
Lobotomia (1940)
O que é: Aprimorada pelo neurologista português Egas Moniz, a cirurgia, que já vinha sendo realizada de diferentes maneiras desde o século 19, consiste em danificar os lobos frontais do cérebro
Justificativa: Distúrbios acontecem porque pensamentos patológicos “fixam-se” nas células cerebrais, especialmente nos lobos frontais. Para curar o paciente, é preciso destrui-las
As faces da loucura
Alguns estereótipos fazem parte da imaginação de todos nós e ajudam a construir nossa ideia do que é a loucura
O profeta
O profeta Gentileza abandonou seu trabalho e sua família para andar pelas ruas do Rio de Janeiro pregando o amor e a paz. “Louco é o homem que preferiu enlouquecer, no sentido em que socialmente se entende a palavra, a trair sua ideia de honra humana”, escreveu o artista francês Antonin Artaud
O gênio
Van Gogh é só um dos exemplos da combinação entre talento extraordinário e distúrbios mentais. “Quando um intelecto superior se une a um temperamento psicopático, criam-se condições para aquele tipo de genialidade que entra para os livros de história”, dizia o filósofo inglês William James
O Melancólico
Um tipo comum no mundo moderno, o deprimido é o homem que perde o interesse pela realidade e passa a viver “no escuro”, abandonando progressivamente a relação consigo mesmo
O delirante
Dom Quixote é o exemplo mais famoso do herói sonhador, que passa a viver dentro de seus próprios sonhos. Seus delírios, como enxergar gigantes em moinhos de vento, criam uma realidade própria, que, para ele, é a verdadeira realidade
O violento
Edward Gein, um dos serial killers mais famosos do século 20, foi preso em 1957 quando a polícia achou corpos de mulheres esquartejados em sua casa. A história inspirou filmes como O Massacre da Serra Elétrica e reforçou a imagem que liga loucura e violência
O ilógico
Twiggy, modelo famosa nos anos 60, inaugurou o ideal de magreza exagerada. Vítima de anorexia nervosa, não enxergava o que parecia óbvio aos demais. Olhava o corpo esquelético no espelho e enxergava-se gorda
(Fonte: https://super.abril.com.br/saude – SAÚDE / Por Bárbara Soalheiro – 31 out 2016)
Para saber mais
Na livraria:
American normal: the hidden world of Asperger syndrome – Lawrence Osbourne, Copernicus, EUA, 2002
História da Loucura na Idade Clássica – Michel Foucault, Perspectiva, 1978
Mad in America – Robert Whitaker, Perseus Books, EUA, 2001
O que é loucura – João Frayze-Pereira, Brasiliense, 1994